
Ciência e religião, apesar de terem gozado de longa amizade por séculos, começaram a ter turbulências em seu relacionamento a partir de Copérnico e Galileu. Com Charles Darwin, parece que foi decretado o total antagonismo entre os dois campos. Cristalizou-se a chamada noção de conflito, que parece moldar os discursos sobre os mesmos na esfera pública mundial, inclusive na brasileira. Mas seria essa a única opção relacional para as duas áreas nos tempos atuais? Este trabalho busca analisar de forma panorâmica as formas de relação que têm sido sugeridas na literatura para abordar o binômio ciência/religião, usando como framework a tipologia sugerida por Ian Barbour (1990 e 2000) e modificada por outros autores: Conflito, Independência, Diálogo e Integração. No início, abordaremos brevemente esta noção popular de que os dois campos estão em notório e irreconciliável conflito, mas apontaremos que esta é apenas uma das formas de relação possível entre os campos. Discorreremos brevemente sobre cada uma das outras formas sugeridas de relação, representadas por diferentes autores e esforços, revisando a literatura para caracterizá-las brevemente. Concluiremos, por fim, enfatizando que o conflito é desnecessário e artificial, apontando para formas mais frutíferas e promissoras de relacionamento, como a Independência, o Diálogo e a Integração. Palavras-chave: CIÊNCIA E RELIGIÃO. EVOLUCIONISMO. CRIACIONISMO. CONFLITO. BARBOUR.
Introdução
O antagonismo entre os termos “ciência” e “religião” é sobremodo fácil de ser percebido nos dias atuais. Basta ver quantos cientistas, principalmente das ciências naturais, se declaram abertamente “homens de fé” ou religiosos. “Cientista” e “religioso” é, na visão popular, um oximoro, uma contradição essencial. Em vista do atual cenário, é fácil esquecer que tais campos tiveram convivência pacífica por muitos séculos. De fato, muitos dos próprios artífices da ciência moderna eram teólogos, clérigos, e, não por acaso, cristãos piedosos. Isaac Newton (1643-1727), por exemplo, pai da mecânica moderna, escreveu muito mais linhas sobre interpretação bíblica do que sobre as leis que regem o mundo físico.1
Charles Darwin (1809-1882) estudou para ser ministro da Igreja da Inglaterra, e Gregor Mendel (1822-1884), pai da genética, plantava suas ervilhas em um mosteiro em Brno, atual República Tcheca, onde era sacerdote. O ocidente, palco da chamada revolução científica, era terreno fértil para o avanço da investigação científica, pois, profundamente influenciados pela “teologia natural”, entendia-se que o Criador se revelava nos seus dois livros: o da revelação escrita e o da própria natureza.2 Assim, a ciência através do método científico revelava a própria mente de Deus, o Supremo Criador.
A turbulência entre ciência e religião aparentemente iniciou-se com o famoso incidente de Galileu Galilei (1564-1642), quando este avançou as pesquisas de Nicolau Copérnico (1473-1543) quanto à questão da heliocentricidade do sistema solar, e teve que por fim negar a aceitação de suas descobertas sob pena de ser lançado à fogueira – o que acabou acontecendo com seu contemporâneo Giordano Bruno (1548-1600). Mas o golpe final, que colocou Deus e a ciência frente a frente em uma aparente batalha, foi mesmo dado pelo naturalista britânico Charles Darwin, frequentemente citado como “o homem que matou Deus”3 , ao publicar seu livro “A Origem das Espécies” em 24 de Novembro de 1859. Ali, ele afirmava que o homem, assim como todo e qualquer ser vivo que habita este planeta, além de ter uma descendência comum com todos os seres, era produto de um longo e gradual processo de modificação biológica, regido por leis naturais, conhecido como evolução. Esta ideia parecia destronar o ser humano da posição de destaque que ocupava como “coroa da Criação”, criado sobrenaturalmente por Deus, colocando-o definitivamente como mais um entre os incontáveis galhos da árvore da vida, um ser efetivamente parte da natureza, e não separado dela.
Atualmente, mais de 150 anos após a publicação do livro, a teoria da evolução das espécies tem indiscutível aceitação nos circuitos científicos. Ela é considerada uma das teorias científicas mais bem embasada por dados empíricos, e é chamada frequentemente de “espinha dorsal da biologia”, ou, nas palavras do geneticista cristão Theodosius Dobzhansky: “nada em biologia faz sentido, exceto à luz da evolução.” (DOBZHANSKY, 1964, p. 449) Mas, surpreendentemente, ela falhou em alcançar este status de aceitação com grande parte da população, no Brasil e no exterior, e, ao que parece, um número expressivo de pessoas negam-na em favor da chamada “posição criacionista”, que defende a literalidade absoluta dos capítulos iniciais de Gênesis no que tange às origens.
Se há alguma dúvida sobre a popularidade de tal compreensão na população brasileira, basta olhar os dados revelados por uma pesquisa do IBOPE publicada em 2005 na Revista Época. A pesquisa aponta que um terço dos brasileiros acredita que o ser humano foi criado por Deus há menos de 10 mil anos, contrariando o consenso científico de que o ser humano habita o planeta por mais ou menos 100 mil anos, e é fruto do processo evolutivo. Comparativamente, à época da pesquisa, nos EUA este número era ainda maior: 55%. Entre os cristãos chamados “nascidos de novo” (identificados com igrejas de cunho evangelical), o número é de criacionistas é maioria absoluta: 90%. (BRUM, 2004)
O embate entre o criacionismo e a teoria da evolução veio, portanto, cristalizar esta noção dicotômica de que ciência e religião estão em lados opostos, sendo necessário a qualquer indivíduo tomar uma decisão do tipo ou/ou, conforme apontou SANCHES (2009, p.12): “a) aceito a Bíblia, logo não aceito a evolução: sou criacionista; b) aceito a evolução, logo, questiono a Bíblia e tenho problema com o cristianismo”.
A exemplo dos EUA, esta discussão já tem adentrado a esfera pública brasileira, principalmente no que se refere ao ensino escolar. Segundo a pesquisa mencionada acima, 89% da população brasileira acha que o criacionismo deve ser ensinado nas escolas públicas e 79% ainda diz que ele deve SUBSTITUIR o evolucionismo. Tal opinião concretizou-se no Rio de Janeiro, onde a então governadora Rosinha Garotinho, evangélica de origem presbiteriana, aprovou em 2004 uma lei que permitia às escolas ensinarem o criacionismo nas aulas de religião, de acordo com a crença religiosa do professor. No mesmo ano ela manifestou claramente sua opinião, em entrevista ao jornal O Globo: “não acredito na evolução das espécies. Tudo isso é teoria”. (MARTINS; FRANÇA, 2004)
Esta noção de conflito e necessidade de escolha tem sido propagada em anos recentes graças ao alvorecer do chamado “movimento neo-ateísta”, que tem em Richard Dawkins seu principal representante. Este movimento caracteriza-se por um ateísmo militante e catequético, que ataca impiedosamente as religiões. Dawkins é autor de diversos best-sellers, tanto no Brasil como nos EUA e Europa, dentre os quais “Deus: Um Delírio” (2006) – livro que segundo ele “saiu sim, para converter!” (DAWKINS, 2006, p. 159) – onde afirma:
O Deus do Antigo Testamento é talvez o personagem mais desagradável da ficção: ciumento, e com orgulho; controlador mesquinho, injusto e intransigente; genocida étnico e vingativo, sedento de sangue; perseguidor misógino, homofóbico, racista, infanticida, filicida, pestilento, megalomaníaco, sadomasoquista, malévolo. (DAWKINS, 2006, p. 51)
A ciência (e um extremo materialismo científico) é o grande argumento de Dawkins e seus correligionários: “A hipótese de Deus é uma hipótese científica, e deve ser analisada ceticamente como qualquer outra.” (DAWKINS, 2006, p. 24)
Tal ideia é ecoada por aqueles que, teoricamente, estão do outro lado do campo de batalha – a saber, os próprios criacionistas. Henry Morris (1918-2006), considerado o pai do movimento criacionista moderno, afirma:
Não há prova científica de que a Terra é velha. Não há qualquer evidência de que houve evolução de um organismo menos complexo para um mais complexo. […] A revelação divina do Criador do mundo afirma que Ele fez tudo em seis dias há alguns milhares de anos atrás. […] A Bíblia contém todos os princípios básicos sobre os quais VERDADEIRA ciência é feita. […] A Bíblia é um livro de ciência! [sic] (MORRIS, 1994. p. 4-5; 1980, p. 229; 1982. p. 75)
Estes dois grupo evidenciam a noção popular de relacionamento entre religião e ciência: os dois campos estão em notório e irreconciliável conflito. Ian Barbour (1923-2013), pHd em física e célebre erudito das relações ciência/religião identifica estes dois grupos como representantes extremos da “tese do conflito”4 . Segundo Barbour, “tanto o literalismo bíblico e o materialismo científico alegam que ciência e religião têm verdades literais e rivais a afirmar sobre o mesmo domínio – a história da natureza – de modo que é preciso escolher uma delas. (BARBOUR, 2000, p. 25)
Barbour, no entanto, nos alerta que esta visão aparentemente dominante de conflito ou oposição é apenas uma das maneiras de considerar as relações entre ciência e religião. É a maneira mais explorada e propagada na mídia mundial, pois, obviamente, o cenário beligerante vende mais jornais e revistas, mas de modo algum é a única visão possível e nem mesmo uma visão necessária. Passaremos agora a explorar os outros modos de relação que têm sido sugeridos para abordar o binômio ciência/religião.
1. Independência
A posição da Independência (chamada por alguns de “contraste”) é uma posição pacificadora, muito popular até hoje em circuitos acadêmicos, teológicos e científicos. Ela afirma que ciência e religião são esferas independentes, estão em domínios separados, estanques, e por isso, o conflito não se justifica. Ademais, elas usariam diferentes linguagens, teriam diferentes funções, fazendo diferentes perguntas e usariam métodos diversos entre si. A ciência lidaria com o objetivo e impessoal, a religião com o pessoal e subjetivo. (BARBOUR, 2000, p. 32) Esta posição é uma forma eficiente de se evitar conflitos, e foi exatamente a forma utilizada pelo teólogo Langdon Gilkey no julgamento do Arkansas de 1981, quando a Suprema Corte americana entendeu que o criacionismo deveria ficar fora das aulas de ciências nas escolas públicas por se tratar de uma posição religiosa. Gilkey argumentou:
- A ciência procura explicar dados objetivos, de domínio público, reproduzíveis. A religião indaga sobre a existência da ordem e beleza no mundo e as experiências de nossa vida interior (como a culpa, a ansiedade, a falta de sentido, de um lado, e o perdão, a confiança, a plenitude, de outro.)
- A ciência formula perguntas objetivas sobre o “como”. A religião formula perguntas pessoais sobre o “porquê”, o sentido e a finalidade, nossa origem essencial e nosso destino.
- As bases da autoridade da ciência são a coerência lógica e a adequação experimental. A autoridade religiosa suprema pertence a Deus e à revelação, compreendida por meio de pessoas que receberam a iluminação e o discernimento e validada em nossa própria experiência.
- A ciência faz previsões quantitativas que podem ser testadas experimentalmente. A religião precisa usar uma linguagem simbólica e analógica, porque Deus é transcendente. (GILKEY, 1985 apud BARBOUR, 2000, p. 33-34)
A posição da Independência foi popularizada nos circuitos científicos em parte pelo célebre Stephen J. Gould, considerado o maior paleontólogo do séc. XX, e um dos mais notáveis divulgadores da ciência. Em seu livro “Pilares do Tempo”, o autor apresenta o conceito de MNI: Magisteria Não-Interferentes (no original inglês, NOMA: Non-Overlapping Magisteria). Segundo sua definição, um magisterium seria um “domínio de autoridade doutrinal”. Sendo assim, ciência e religião ocupariam dois “magisteria”:
Esses dois magisteria não interferem um com o outro, nem tampouco englobam todas as especulações (considerem por exemplo, o magisterium da arte e o significado da beleza). Para citar antigos clichês, a ciência se interessa pelo tempo, e a religião pela eternidade; a ciência estuda como funciona o céu, a religião como ir para o céu. (GOULD, 2002, p. 13)
Ian Barbour identifica na neo-ortodoxia cristã protestante a cristalização da posição da Independência dentro dos circuitos religiosos. Ele afirma:
A neo-ortodoxia cristã protestante tem defendido uma separação mais explícita entre ciência e religião, procurando recuperar, dos tempos da Reforma, a ênfase na centralidade de Cristo e na primazia da revelação, ao mesmo tempo em que aceita inteiramente os resultados da moderna exegese e pesquisa científica bíblica. Karl Barth e seus seguidores defendem que Deus só pode ser conhecido enquanto revelado em Cristo e confirmado na fé. Ele é o transcendente, o inteiramente outro, o incognoscível, exceto quando se revela. A fé religiosa depende inteiramente da iniciativa divina, e não de uma descoberta do tipo científico. A esfera principal da atuação de Deus é a história, e não a natureza. Os cientistas são livres para prosseguir com seu trabalho sem a interferência da teologia e vice-versa, uma vez que seus métodos e objetos de estudo são totalmente diversos. A ciência baseia-se na observação e razão humanas, enquanto a teologia baseia-se na revelação divina. (BARBOUR, 2000, p. 33)
Uma outra forma de separar as proposições científicas das teológicas, comum no pensamento católico e neo-ortodoxo, é a distinção tomista de causalidade primária e secundária. Deus, como causa primordial, agiria por meio de causas secundárias do mundo natural que a ciência estuda. Como os dois tipos de causa operam em níveis totalmente diferentes, a análise científica pode desenvolver-se em seus próprios termos, sem se referir à teologia. Segundo Barbour,
a explicação científica é completa em seu próprio nível, sem quaisquer lacunas em que Deus precisaria intervir, enquanto o teólogo pode dizer que Deus mantém e utiliza toda a sequência natural. A causalidade primária representa uma ordem diferente de explicação, em resposta a perguntas muito diferentes daquelas formuladas pelo cientista a respeito das relações no mundo natural. (BARBOUR, 2000, p. 131)
Embora evitando o conflito, a posição da independência exclui a possibilidade de um enriquecimento mútuo que pode vir a ser frutífero para uma compreensão mais totalitária da realidade. A vida é experimentada em sua integralidade, e não em compartimentos estanques, e a posição da independência também não se livra totalmente de certas dicotomias – de um lado o “Como?” e de outro o “Por quê?”, como bem apontou POLKINGHORNE (1998, p. 21). Ademais, segundo ele, “se as respostas a estas perguntas devem fazer algum sentido, precisa haver algum tipo de consonância entre elas.” Brakemeier concorda, concluindo que
[…] o divórcio entre o crer e o saber acarreta prejuízos não só para as pessoas, como também para a própria religião e ciência. Existe forte interdependência. Mas ela é difícil de definir. Tanto mais importante será o ensaio do diálogo. (BRAKEMEIER, 2006, p. 7)
2. Diálogo
Esta posição dá um passo adiante, admitindo que ciência e religião têm algo a dizer uma para a outra. Enquanto a independência enfatiza as diferenças entre os dois campos, os defensores do diálogo trazem à tona as semelhanças entre os dois discursos. Estas semelhanças se dariam principalmente nos pressupostos, nos métodos e em alguns conceitos.
Segundo Thomas Torrance, a possibilidade do diálogo começa a se abrir por que “a ciência propõe questões fundamentais que não consegue resolver”. (TORRANCE, 1979, p. 347) Ou seja, em áreas em que seus interesses se sobrepõem, o diálogo emerge. Essas áreas não são difíceis de se identificar, por exemplo, em questões-limite, ou fronteiriças, levantadas por exemplo pela astronomia: o que havia antes do Big-Bang? O universo é infinito? Por que o universo parece ser tão bem ajustado para o aparecimento da vida, e da vida humana inclusive? Outras questões surgem a partir de situações-limite: Há vida após a morte? Qual a relação de mente e corpo? Todas estas questões envolvem diálogo entre cientistas e teólogos.
Outra possibilidade para o diálogo advém do reconhecimento de paralelos metodológicos e conceituais entre ciência e religião. Os paralelos metodológicos emergem a partir de um reconhecimento de que a ciência não é na realidade tão “objetiva” quanto normalmente alardeia-se, e nem a religião tão subjetiva quanto se pensava. Thomas Kuhn argumenta que a ciência é feita de paradigmas que emergem de tradições culturais, o que é similar à perspectiva secular de religião, e que a escolha de paradigmas é um julgamento com critérios não previamente determinados, cabendo à comunidade científica julgá-los. “Assim, discrepâncias entre a teoria e os dados podem ser deixadas de lado como anomalias, ou reconciliados por meio da inserção de hipóteses ad hoc, e o mesmo pode acontecer e acontece com a religião”. (KUHN, 1996, apud BARBOUR, 2000, p. 41)
Barbour aponta
que os dados científicos não são independentes das teorias, mas viciados por elas. Os pressupostos teóricos interferem na seleção, interpretação e descrição de dados. Além disso, teorias não surgem da análise lógica dos dados, mas de atos de imaginação criativa, nos quais analogias e modelos tem frequentemente um papel. (BARBOUR, 2000, p. 42)
Analogias e modelos são usados em ciência e em religião, e aqui surge outro paralelo. Arthur Peacocke, outro prolífico autor na área de ciência e religião, ilustra e expande este ponto quando fala dos físicos, para os quais “seus modelos e hipóteses são ‘candidatos à realidade’, ou seja, hipóteses sobre um mundo real (mas apenas imperfeitamente conhecido) do qual os modelos se aproximam e as hipóteses genuinamente se referem”. No entanto,
eles estão comprometidos, sob a base de evidências passada e experiência atual, a, por exemplo ‘crer’ nos elétrons – ou seja, eles não conseguem organizar as suas atuais observações sem afirmar que os elétrons existam. O que eles creem sobre os elétrons pode muito bem mudar, o que de fato já ocorreu muitas vezes, mas são elétrons a que eles ainda se referem, por causa das longas conexões sociais que remontam às primeiras ocasiões quando eles foram ‘descobertos’. Então, os físicos estão comprometidos a ‘crer’ na existência dos elétrons, mas continuam hesitantes em dizer o que os elétrons são, estando sempre prontos a novos modos de pensar sobre eles que venham a aumentar a confiabilidade de suas previsões e tornar seu entendimento mais totalitário com respeito à gama de fenômenos para os quais este entendimento é relevante. (PEACOCKE, 1979, p. 21-22)
Ele argumenta que a religião e os religiosos fazem exatamente a mesma coisa, fazendo assertivas sobre a realidade usando termos e conceitos com os quais estão comprometidos, mas que estão em constante transformação e reforma, mesmo que a sua referência não mude, como o elétron.
As analogias e modelos normalmente ocorrem nas ciências no campo do muito grande (astronomia e astrofísica) e do muito pequeno (física quântica), nos ajudando a imaginar o que não é possível observar diretamente, assim como é típico na religião.
Em suma, os autores que defendem o diálogo reconhecem que há diferenças significativas entre ciência e religião, principalmente metodológicas. No entanto, há paralelos significativos que merecem ser trabalhados, para enriquecimento de ambas.
Por Tiago Garros*
_______________________________________________________________________________________________________

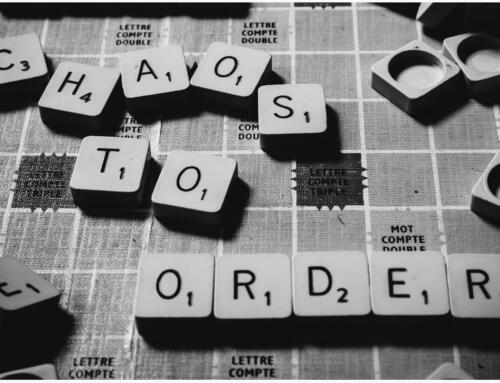



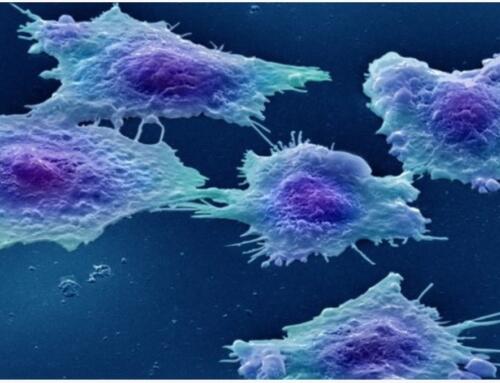
Deixar um comentário
Você precise estar logged in para postar um comentário.