Entre o local e o global: notas introdutórias sobre as dimensões da responsabilidade tecnológica e o debate comunitarista
Fernando Pasquini Santos
Os dualismos da cosmovisão moderna se manifestam de formas bastante peculiares na tecnologia. Albert Borgmann, ao examinar o caráter da tecnologia na vida contemporânea, propõe que vivemos sob o que ele chama de paradigma de dispositivo, uma situação histórica na qual o dispositivo recebe um lugar central na cultura. Segundo ele, o dispositivo é um artefato composto por um dualismo ou divisão fundamental entre maquinário e commodity: o maquinário é a infraestrutura, o aparato oculto, imperceptível, incompreensível e desengajado que nos entrega, por sua vez, a experiência final do consumidor, ou seja, o commodity [1]. O dualismo também pode ser olhado por outros ângulos, revelando-se, por exemplo, também como o dualismo entre produção e consumo, que se tornou cada vez mais visível a partir da Revolução Industrial. Na verdade, poder-se-ia argumentar que esses dualismos são apenas formulações particulares de outros dualismos mais gerais, propostos por diversos autores. Produção e consumo parecem ser uma versão “material” do dualismo no motivo-base dooyeweerdiano natureza/liberdade.
Atualmente, um dos dualismos mais explorados na intersecção entre tecnologia e filosofia política é o local e o global, ou o centralizado e descentralizado. Langdon Winner mostra a que a centralização e descentralização dos empreendimentos humanos apenas segue a divisão entre produção e consumo: a partir da Revolução Industrial, toda a produção tende a se centralizar em poucas empresas e infraestruturas tecnológicas (ou no Estado, quando se nota que as empresas são muito arbitrárias e ineficientes), enquanto o consumo tende a se descentralizar em direção ao indivíduo, à medida que oferece cada vez mais opções de mercado e de personalização [2]. Não é difícil notar essa tendência. A descentralização da experiência possui como exemplo máximo hoje a internet, as redes sociais e a cultura do prosumer [3]. Winner nota que as soluções atuais da internet, embora muitas vezes vistas com bons olhos sob a promessa de uma maior diversidade e democracia, continuam refletindo o dualismo predominante e cada vez mais aprofundado. Ainda dependemos de maquinários ocultos (ou infraestruturas) como Google, YouTube Facebook para criar e divulgar nossas commodities e experiências particulares. Isso leva tanto Winner, como também Borgmann, a ressaltarem que nossas novas tecnologias não são tão “pós-modernas” como acreditamos, no sentido de nos libertarem de estruturas rígidas e fixas e abrirem espaço para a diversidade e criatividade, mas sim, hipermodernas [4]. Embora muito tenha mudado, e talvez até melhorado, depois da quebra de certos monopólios industriais e midiáticos por parte da internet, ainda continuamos dependentes de infraestruturas tecnológicas centralizadas cujos funcionamentos já começam a ser questionados em vários lugares [5]. A distinção entre fato e valor que fundamenta a modernidade continua operante. A internet é nosso fato. Nossos perfis de redes sociais são nossos valores. Observe a figura abaixo, nos moldes schaefferianos:
Andar superior – Liberdade – Valores – Experiência – Consumo – Descentralização – Local
___________________________________________________________________________________________________
Andar inferior – Natureza – Fato – Infraestrutura – Produção – Centralização – Global
Diversas perguntas podem surgir daqui, como: o que isso prova acerca da modernidade, ou mais especificamente, dos ideais do liberalismo? Será que eles triunfaram ou fracassaram? Esse dualismo entre infraestrutura e experiência do usuário é bom ou ruim? Algumas pessoas poderiam dizer que, com a internet, a modernidade triunfou; que ela trouxe uma maior democratização, e que os problemas que alguns críticos da tecnologia gostam de levantar – como a suposta não-neutralidade dessas plataformas virtuais, direcionando os usuários a certos comportamentos – são questões secundárias, de pouco impacto prático, e que em breve também serão resolvidas em um futuro próximo por meio de plataformas cada vez mais neutras (afinal, foi esse tipo de passo que a internet realizou: trouxe-nos uma plataforma muito mais neutra em relação a tecnologias anteriores como o rádio ou a TV). Mas as coisas podem não ser tão simples assim. Comecemos por aqui: essa última ideia parte de um ideal de progresso contínuo e, portanto, poderia ser refutada por críticas já consolidadas, como as feitas de modo indireto por Aldous Huxley, em Admirável Mundo Novo, ou direto, por C. S. Lewis em A Abolição do Homem. O ponto desses dois autores, ao expor o otimismo simplista por trás de muitas visões acerca da tecnologia, é simples: pode ser que, ao desenvolvermos novas tecnologias, vamos perdendo a capacidade de ver o que está sendo perdido e, assim, nos iludimos com a crença de que estamos progredindo. Aplicando ao nosso caso: pode ser que, ao acreditarmos que estamos partindo em direção a infraestruturas tecnológicas cada vez mais neutras, estamos perdendo a capacidade de ver que elas realmente não são neutras, e que estão moldando nossas vidas e comportamento de formas bastante prejudiciais.
Isso pareceria óbvio para muitos de nós caso começássemos nos lembrando da quantidade de tempo que passamos na internet hoje. Tudo converge para lá e o problema é que, nas palavras da banda Arcade Fire, “so when the lights cut out / I was lost standing in the wilderness downtown” [então quando as luzes apagaram / eu estava perdido, de pé no centro da cidade deserto]. De fato, uma característica das infraestruturas tecnológicas modernas é que, quanto mais as temos, mais dependemos delas. No século passado, a maioria da população se mudou de áreas rurais para as cidades – as infraestruturas tecnológicas modernas – e, neste século, também estamos nos mudando das próprias cidades para os ambientes virtuais. A oposição liberal entre o homem e a ordem natural continua se manifestando, de forma cada vez mais acentuada, e muito está sendo perdido, inclusive a própria liberdade. Sim, nós somos livres para entrar no site que quisermos e ler o que quisermos, mas não somos mais livres para bater na porta de nosso vizinho e propor a plantação de uma árvore no canteiro da esquina. Não há tempo e espaço para os outros, para o mundo e para as coisas “improdutivas”; apenas para nós mesmos e nossos desejos insaciáveis. O liberalismo continua insustentável [6].
É a partir de percepções como essas que diversos estudiosos da tecnologia têm proposto cursos alternativos para nossa cultura. Jacques Ellul propunha um tipo de anarquismo que visava uma libertação da técnica; ou seja, das infraestruturas não-neutras que ditam e reduzem a humanidade a menos do que ela é. E. F. Schumacher, influenciado pelas ideias distributistas de G. K. Chesterton e Hillaire Belloc, é conhecido por seu livro Small is Beautiful, no qual ele propõe a redução dos empreendimentos tecnológicos, o estabelecimento de fronteiras e escopos bem definidos, e o desenvolvimento de tecnologias apropriadas ou intermediárias [7]. O interessante é que todas essas propostas, bem como a maioria das propostas dos críticos da tecnologia, giram em torno de um tipo de descentralização, com um foco mais numa dimensão mais local, comunitária e contingente. E de fato, tudo isso se alinha bastante com os desenvolvimentos recentes em filosofia política, como no debate liberal-comunitário. Comunitaristas como Alasdair MacIntyre, Michael Sandel e Charles Taylor notam que, historicamente, o surgimento da tecnologia moderna (e por que não, também, a ciência?) está intimamente ligado aos princípios do liberalismo político em intelectuais como John Locke e Francis Bacon. O comunitarismo surge a partir de uma crítica e proposta alternativa ao liberalismo moderno e, portanto, também lança as bases para uma visão alternativa para a tecnologia. Não é coincidência que muitos filósofos políticos atuais, como Charles Taylor, também aventurem a falar sobre tecnologia [8], e filósofos da tecnologia, como Albert Borgmann, também se envolvam no debate liberal-comunitário [9].
É quase desnecessário dizer que propostas mais localistas para o desenvolvimento cultural levantam muitos questionamentos e até críticas, e isso de forma ainda mais séria nas questões de tecnologia. Não estaríamos pendendo para apenas um dos lados do dualismo, e ignorando o outro? Ou, em outras palavras: haveria espaço para empreendimentos humanos de alcance global? De fato, isso revela que ainda temos muito trabalho pela frente ao trabalhar as intersecções entre filosofia política comunitarista e tecnologia. Um primeiro desconforto pode ser expresso da seguinte forma: “Nós sabemos que muitas das soluções de tecnologia dependem de economias de escala e coordenações massivas de pessoas para funcionar. Sendo assim, como seria possível desenvolvimentos tecnológicos tão bons como os que temos hoje – como os em saúde ou – partindo de comunidades locais e reduzidas?”
De fato, não podemos esperar que um empreendimento local, como uma comunidade amish, produza antibióticos ou circuitos integrados. Mas uma primeira forma de abordar esse desconforto seria partir de uma posição talvez mais ludita e perguntar: “será que realmente precisamos de antibióticos e circuitos integrados?”, ou até mesmo: “e você acha que os amish são mais infelizes por não terem antibióticos e circuitos integrados?”. Talvez nós já tenhamos nos acostumado com muitos dos benefícios da tecnologia atual e achamos que realmente precisamos deles. Os avanços em saúde são um caso exemplar: é claro que ninguém é masoquista ou quer morrer. Mas, para parafrasear Jacques Ellul, hoje em dia somos um povo muito mais saudável do que qualquer outro povo em qualquer outra época, mas não temos ideia do motivo de estarmos vivendo [10]. Trocar o sentido da vida por alguns anos a mais pode não ser uma troca tão vantajosa. Assim, é muito importante considerar que uma reforma cultural e tecnológica pode envolver, sim, a necessidade de darmos alguns passos para trás.
Mas, em outras situações, pode ser que não. Pode ser que o comunitarismo não implique necessariamente abandonarmos todas as formas de articulação massiva, a níveis nacionais ou globais, e criarmos um tipo de neofeudalismo. Nesse sentido, o princípio de subsidiariedade, da doutrina social católica, representa um horizonte promissor, e o próprio E. F. Schumacher o usou para propor uma reforma tecnológica. “Subsdiariedade significa que, sempre que possível, as coisas devem ser feitas pelo menor elemento concebível na hierarquia social, sendo que uma comunidade superior, como o Estado, por exemplo, só tem justificativa para fornecer assistência (subsidium) se isso falhar. Porém, uma vez corrigido o problema, a comunidade superior deve se retirar mais uma vez e finalizar sua intervenção” [11]. No entanto, ainda parece vago, nesse esquema, o que um “elemento menor” dentro de uma hierarquia social pode, ou deve, fazer e, assim, como os elementos maiores devem fornecer subsídio.
O que me parece faltar aqui são critérios capazes de dar um sentido moral adequado às dimensões global e local dos empreendimentos humanos. E talvez seja aqui que precisemos recuperar certos conceitos há muito tempo já esquecidos dentro de nossa cosmovisão moderna. E. F. Schumacher lança uma reflexão crucial, e que também se manifesta nas ideias comunitaristas: precisamos recuperar o sentido das fronteiras e dos escopos em nossos empreendimentos tecnológicos. Observe o sentido negativo que nossa cultura constantemente dá à ideia de fronteira: ciência sem fronteiras, médicos sem fronteiras, viver sem fronteiras. Mas por que a vida sem fronteiras é necessariamente boa? Qual o sentido moral de estabelecermos fronteiras?
Michael Sandel sugere que, por trás do conceito de fronteiras está o senso daquilo que devemos uns aos outros [12]. A fronteira de um país, por exemplo, delimita uma nação, um conjunto de pessoas com um senso de identidade e, por isso mesmo, obrigações mútuas e, muitas vezes, muito maiores do que para com outras pessoas do lado de fora dessas fronteiras. Repare que, hoje, nós temos muita dificuldade com isso. Se você, brasileiro, tivesse que escolher salvar um brasileiro ou um americano, quem salvaria? (Este tipo de situação é muito comum em guerras, como o próprio Sandel relata). Alguns responderiam que tanto faz. Mas reformule a questão: e se você tivesse que escolher entre seu filho e qualquer outra criança? Há quem até mesmo responda que não devemos escolher nossos filhos, e que temos o mesmo dever moral para todos os membros da humanidade de forma indistinta [13]. Partir apenas de nossa perspectiva finita é, como implícita ou explicitamente se acredita, perpetuar preconceitos e desigualdades.
No entanto, é exatamente na percepção de nossa finitude que encontramos um ponto de partida para nossa responsabilidade [14]. E é no cerne da tecnologia idólatra que se encontra uma rejeição da finitude humana. Ao recusarmos isso, temos inumeráveis problemas, entre os quais destaca-se um senso de responsabilidade absoluta para com todos os membros da humanidade, o qual, dependendo da pessoa, pode desencadear ou algum tipo de ativismo ou hiperatividade, ou um cinismo e desânimo. Mas os problemas podem ser ainda mais sérios nas áreas da economia e da organização do trabalho, e diversos autores ligam a criação de infraestruturas burocráticas à necessidade de ação e controle à distância [15]. Assim, quando autores propõem soluções mais locais para as tecnologias, o pressuposto implícito é que, no ambiente local e imediato, teremos um senso maior de nossa finitude e, portanto, uma maior realização e responsabilidade moral.
Muito ainda precisa ser trabalhado na discussão comunitarista acerca do dever moral dentro de nossas fronteiras e escopos. E isso acaba sendo crucial para nossa cultura material e tecnológica. Deveríamos nos perguntar mais: o que devemos uns aos outros em um sentido material? Uma ênfase exclusiva em obrigações para com toda a humanidade – justificada a partir de um pagamento de salário, lucro ou título acadêmico – acaba quase sempre tomando o lugar de uma obrigação para com a pessoa ao lado. E tudo isso é reforçado pela supremacia do desejo individual: nosso senso moral parece ser única e profundamente moldado apenas por algo que alguém desejaria, ou teria prazer em ter; ou seja, a única coisa que devemos uns aos outros seriam novidades de produtos; e disso partem nossas iniciativas de startups e mesmo de pesquisa científica. Deveria haver muito mais em jogo aqui – mas esse “mais” só pode ser discernido a partir da finitude de uma perspectiva local e comunitária. Isso excluiria qualquer tipo de perspectiva global? Sinceramente, não sei.
Em suma, podemos dizer que, se quisermos começarmos a progredir no debate sobre responsabilidade tecnológica, precisamos incluir pelo menos três novas palavras em nosso vocabulário moral: fronteira, escopo e finitude. Sem elas, estamos presos nos dualismos modernos, escravizados pelas infraestruturas e entediados pelos commodities. Com elas, voltamos a compreender e reafirmar práticas que vão muito além dessas divisões e que nos fazem muita falta: a produção local, como o trabalho doméstico, e o lazer global, como as celebrações cívicas. Como tudo isso pode ser buscado e implementado já contando com nossas estruturas liberais consolidadas – ou seja, como consertar o bonde enquanto ele está andando – acaba sendo um problema maior ainda. Mas tenhamos esperança. A ação de Deus aqui e agora não falha.
[1] BORGMANN, Albert. Technology and the character of contemporary life: A philosophical inquiry. University of Chicago Press, 1987. Talvez muito antes de Borgmann, H. G. Wells tenha capturado essa divisão em A Máquina do Tempo, imaginando um futuro no qual a humanidade seria dividida em duas raças: os elois, a raça dos commodities, e os morlocks, a raça dos maquinários.
[2] WINNER, Langdon. Descentralization clarified. Em: The whale and the reactor: A search for limits in an age of high technology. University of Chicago Press, 2010.
[3] RITZER, George, and JURGENSON, Nathan. Production, Consumption, Prosumption: The Nature of Capitalism in the Age of the Digital ‘Prosumer’. Journal of Consumer Culture, vol. 10, no. 1, Mar. 2010, pp. 13–36, doi:10.1177/1469540509354673.
[4] BORGMANN, Albert. Crossing the postmodern divide. University of Chicago Press, 1993.
[5] Debates sobre privacidade de dados e tendenciosidade em algoritmos de redes sociais têm sido bastante recorrentes hoje em dia. Veja, por exemplo, o trabalho de Cathy O’Neil, Weapons of math destruction: How big data increases inequality and threatens democracy (Broadway Books, 2017).
[6] DENEEN, Patrick J. Unsustainable liberalism: liberalism’s contradictions are unsustainable and we must see man and nature anew. First Things, 2012. Disponível em: <https://www.firstthings.com/article/2012/08/unsustainable-liberalism>
[7] Segundo Winner, as ideias de Schumacher acerca de tecnologias apropriadas foram perdendo o seu sentido com o tempo, à medida em que se tornaram simplesmente tendências de moda, nichos de mercado ou distintivos empresariais para uma maior competitividade, como observamos com próprio termo “sustentável” e as propostas de “estilos de vida ecológicos”, em torno de produtos orgânicos e empreendimentos imobiliários prometendo um maior contato com a natureza. “Os tecnólogos apropriados não estavam dispostos a enfrentar diretamente os fatos do poder social e político organizado. Fascinados pelos sonhos de uma revolução popular espontânea, evitaram qualquer análise profunda das instituições que controlam a direção do desenvolvimento tecnológico e econômico”. WINNER, Langdon. Building the better mousetrap. Em: The whale and the reactor: A search for limits in an age of high technology. University of Chicago Press, 2010.
[8] TAYLOR. Charles. A ética da autenticidade. É Realizações, 2011.
[9] BORGMANN, Technology and the character of contemporary life.
[10] ELLUL, Jacques; RICHMOND, Lisa. Presence in the Modern World. 2016.
[11] KOYZIS, David T. Visões e ilusões políticas: uma análise e crítica cristã das ideologias contemporâneas. São Paulo: Vida Nova, 2014, p. 263.
[12] SANDEL, Michael J. Justiça: o que é fazer a coisa certa. Editora José Olympio, 2015.
[13] Observe como muitas das discussões em torno de igualdade e justiça decorrem de uma rejeição dessa ideia fundamental de que temos deveres maiores para aqueles mais próximos de nós. Muitos de nós também nos sentidos desconfortáveis com o dilema entre comprar um brinquedo caro para os nossos filhos ou doá-lo para ajudar crianças na África que não tem nem comida. Reconheço que questões assim não são simples, mas creio que qualquer caminho para sua solução passe por uma reflexão sobre o escopo de nosso dever moral – que, infelizmente, quase sempre é alargado sem qualquer critério para nos constranger ou alegar superioridade moral. Como veremos, as coisas não são diferentes com tecnologia, e principalmente quando ela é buscada e desenvolvida sob a motivação de ajudar a humanidade ou mudar o mundo.
[14] Uma das figuras realizando um diálogo extremamente promissor entre a filosofia política comunitarista e filosofia da tecnologia é o professor de ciência política Murray Jardine, com seus dois livros, Speech and Political Practice: Recovering the Place of Human Responsibility (1998), e The Making and Unmaking of Technological Society: How Christianity Can Save Modernity from Itself (2004). Jardine argumenta que a visão liberal moderna não é capaz de dar sentido moral às capacidades humanas de interferir na natureza. Tendo rejeitado cosmovisões antigas na qual a ordem natural era fixa e imutável, só nos restaram duas opções: ou o niilismo, onde não há sentido algum no universo e podemos fazer o que bem entendermos conosco e com o mundo, ou a visão bíblica, na qual as mudanças na ordem natural seguem um padrão de acordo com a Palavra de Deus, que estabelece alianças com o homem e criação de acordo com seu próprio lugar e perspectiva finita. Uma compreensão adequada da finitude humana e de seu lugar diante do Criador é a chave para compreendermos as formas adequadas de limitar nossas tecnologias.
[15] Bruno Latour argumenta que o empreendimento tecnocientífico é, fundamentalmente, uma busca por ação à distância. Vide LATOUR, Bruno. Ciência em ação: como seguir cientistas e engenheiros sociedade afora. Unesp, 2000.

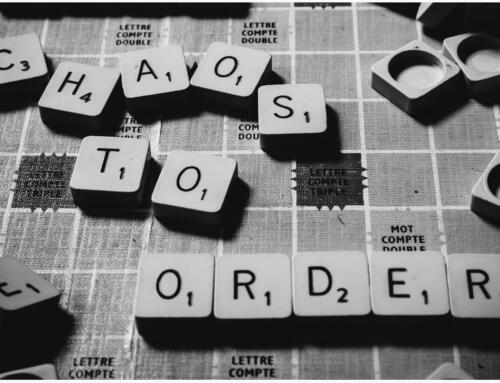



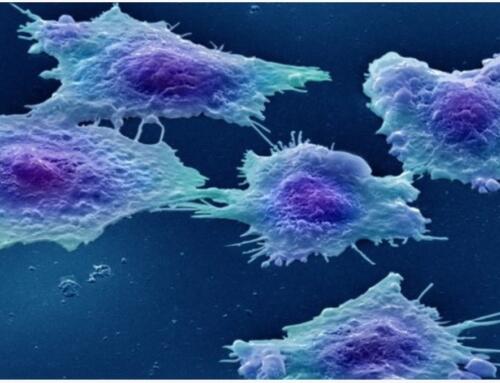
Deixar um comentário
Você precise estar logged in para postar um comentário.