
por Alvin Plantinga
Tradução: Vitor Grando
No artigo seguinte eu escrevo da perspectiva de um filósofo e, é claro, eu tenho conhecimento detalhado apenas (no máximo) do meu campo de trabalho. Estou convicto, entretanto, de que muitas outras disciplinas se assemelham à filosofia no que tange às coisas que eu digo abaixo. (Fica a cargo dos praticantes de tais disciplinas observar se estou certo ou não).
Primeiro, não é somente na filosofia que nós cristãos somos altamente influenciados pelas práticas e procedimentos de nossos colegas não-cristãos. (De fato, tendo em vista o caráter rixento dos filósofos e o grande desacordo na filosofia é provavelmente mais fácil ser um dissidente na filosofia do que em qualquer outra disciplina.) O mesmo vale para aproximadamente qualquer disciplina intelectual contemporânea importante: história, crítica literária e artística, musicologia e as ciências tanto sociais quanto naturais. Em todas essas áreas há maneiras de se proceder, hipóteses difundi- das sobre a natureza da disciplina (por exemplo, hipóteses sobre a natureza da ciência e seu lugar na nossa economia intelectual), hipóteses sobre como a disciplina deve ser realizada ou sobre o que é uma contribuição importante. Nós absorvemos essas hipóteses, se não quando jovens, de qual- quer forma absorvemos ao trabalhar nas disciplinas. Em to- das essas áreas aprendemos como praticar nossas disciplinas sob a direção e influência de nossos colegas. Mas em muitos casos essas hipóteses e pressuposições não se conformam facilmente a uma forma cristã ou teísta de enxergar o mundo. Isso é óbvio em muitas áreas: na crítica literária e teoria cinematográfica, onde o antirrealismo criativo (veja abaixo) invade; na sociologia e na psicologia e outras ciências humanas; na história, e até em muito da teologia contemporânea (liberal). É menos óbvio, mas não menos presente, nas chamadas ciências naturais. O filósofo australiano J.J.C. Smart uma vez disse que um argumento útil (de seu ponto de vista naturalista) para convencer crentes na liberdade humana de seu erro é apontar que a biologia mecanicista contemporânea parece não deixar espaço para o livre-arbítrio humano: como, por exemplo, tal coisa (livre-arbítrio) poderia se desenvolver no curso evolucionário das coisas? Até na física e matemática, os rígidos baluartes da razão pura, questões similares surgem. Estas questões têm a ver com o conteúdo dessas ciências e a maneira como se desenvolveram. Também têm a ver com a maneira (como são normalmente ensinadas e praticadas) como essas disciplinas são artificialmente separadas das questões concernentes à natureza dos objetos os quais elas estudam – uma separação determina- da, não pelo que é mais natural ao objeto em questão, mas por uma abrangente concepção positivista da natureza do conhecimento e a natureza da atividade intelectual humana.
E terceiro, aqui, como na filosofia, cristãos devem demonstrar autonomia e integridade. Se a biologia mecanicista contemporânea realmente não deixa espaço para a liberdade humana, então algo além da biologia mecanicista contem- porânea deve ser sugerido; e a comunidade cristã deve desenvolver isso. Se a psicologia contemporânea é funda- mentalmente naturalista, então cabe aos psicólogos cristãos desenvolver uma alternativa que se encaixe bem com o sobrenaturalismo cristão – uma que comece a partir de produtivas verdades científicas tais como Deus criou o ser humano a sua própria imagem.
É claro que eu não pretendo ensinar aos cristãos praticantes de outras disciplinas como apropriadamente praticar suas disciplinas como cristãos. (Tenho ocupação o bastante em tentar seguir minha própria disciplina adequadamente.) Mas eu acredito firmemente que o padrão apresentado na filosofia é também encontrado em quase toda área de engajamento intelectual sério. Em cada uma dessas áreas funda- mentais, e muitas vezes não expostas, pressuposições que dirigem a disciplina não são religiosamente neutras; são, muitas vezes, opostas à perspectiva cristã. Nessas áreas, então, como na filosofia, cabe aos cristãos que as praticam desenvolver as apropriadas alternativas cristãs.
1. Introdução
O cristianismo, atualmente, e na nossa parte do mundo, está crescendo. Há muitos sinais apontando nesta direção: o crescimento de escolas cristãs, de sérias denominações cristãs conservadoras, o furor sobre a oração pública nas es- colas, a controvérsia evolução/criação, e outros.
Há também poderosas evidências disso na filosofia. Trinta ou trinta e cinco anos atrás, o temperamento público da filosofia corrente no mundo de fala inglesa era profundamente não-cristão. Poucos filósofos eram cristãos; menos ainda admitiam em público que eram, e menos ainda pensavam que ser cristão faria alguma diferença real em sua prática filosófica. A questão da teologia filosófica mais popular, na época, era não se o cristianismo ou o teísmo eram verdadeiros; a questão era se fazia sentido dizer que há tal pessoa como deus. De acordo com o positivismo lógico, em alta na época, a afirmação “Deus existe” não fazia sentido algum; é loucura; não expressa nada. A questão central não era se o teísmo era verdadeiro; era se há tal coisa como teísmo – uma afirmação factual que é ou falsa ou verdadeira. Mas as coisas mudaram. Há muito mais filósofos cristãos e ainda mais produtivos filósofos cristãos entre os maiores da vida filosófica americana. Por exemplo, a fundação da Society for Christian Philosophers (Sociedade para Filósofos Cristãos), uma organização que promove companheirismo e troca de ideias entre filósofos cristãos, é tanto uma evidência como uma consequência desse fato. Fundada seis anos atrás, agora é uma forte organização com encontros regionais em toda parte do país. Seus membros estão profundamente envolvidos na vida filosófica americana profissional. Então, o cristianismo está crescendo e crescendo na filosofia, como também em todas as outras áreas da vida intelectual.
Mas mesmo o cristianismo crescendo, deu poucos passos e está marchando dentro de um território alheio. Visto que a cultura intelectual de nossos dias é, em grande parte, pro- fundamente não-teísta e, portanto, não-cristã – mais do que isso, é antiteísta. Muito das chamadas ciências humanas, muito das ciências não-humanas, muito do engajamento intelectual não-científico e mesmo uma boa parte da suposta teologia cristã é animada por um espírito estranho ao teísmo cristão. Não tenho espaço aqui para desenvolver e elaborar esse ponto mas eu não preciso, pois isso é familiar a vocês todos. Retornando à filosofia: muito dos principais departamentos de filosofia na América tem praticamente nada para oferecer ao estudante que intenta ver como se é um filósofo cristão, como desenvolver o testemunho cristão em assuntos correntes na filosofia. Num departamento de filo- sofia típico haverá pouco mais do que um curso sobre filo- sofia da religião no qual lhes será sugerido que as evidências a favor da existência de Deus – as provas teístas clássicas – são, no mínimo, contrabalançadas pelas evidências contra a existência de Deus – o problema do mal, talvez; e também pode ser acrescentado que a escolha mais sábia, tendo em vista máximas como A Navalha de Ockam, é dispensar toda essa ideia de Deus, pelo menos para propósitos filosóficos.
Meu intento, aqui, é dar alguns conselhos aos filósofos que são cristãos. E apesar de meus conselhos serem dirigidos especificamente aos filósofos cristãos, é relevante para todos os filósofos que creem em Deus, judeus ou muçulmanos. Eu proponho apresentar algum conselho à comunidade filosófica cristã ou teísta: algum conselho relevante à situação na qual nos encontramos. “Quem é você?”, me perguntas, “para nos dar conselhos?”. É uma boa pergunta sem resposta: devo ignorá-la. Meu conselho pode ser resumido em duas sugestões interligadas, junto de uma explicação. Primeiro, filósofos e intelectuais cristãos devem demonstrar mais autonomia – mais independência do resto do mundo filosófico. Segundo, filósofos cristãos devem mostrar integridade – integridade no sentido original da palavra, ser um inteiro. Talvez “integralidade” fosse a melhor palavra aqui. E, necessário aos dois, há um terceiro: coragem cristã, ou ousadia, ou força, ou talvez autoconfiança cristã. Nós filósofos cristãos devemos mostrar mais fé, mais confiança no Senhor. Nós devemos vestir toda armadura de Deus. Dei- xe-me explicar de forma preliminar e breve o que eu tenho em mente. Então considerarei alguns outros exemplos mais detalhadamente.
Pense num estudante cristão de Grand Rapids, Michigan, ou Arkadelphia, Michigan – que decide seguir seu caminho na filosofia. Naturalmente o bastante, ele irá para a faculdade para aprender como se tornar filósofo. Talvez vá a Princeton, ou Berkeley, ou Pittsburg, ou Arizona; não importa muito qual. Lá ele aprende como a filosofia é praticada. As questões presentes são tópicos tais como a nova teoria de referência; a controvérsia realismo/antirrealismo; os problemas de probabilidade; a alegação de Quine sobre a indeterminação radical da tradução; Rawls sobre justiça; a teoria causal do conhecimento; problemas de Gettier; o modelo de inteligência artificial para entender o que é ser uma pes- soa; a questão sobre o status ontológico não-observável de entidades na ciência; se há objetividade genuína na ciência ou em qualquer lugar; se a matemática pode ser reduzida a pura teoria ou se entidades abstratas em geral – números, proposições, propriedades – podem ser dispensadas; se mundos possíveis são abstratos ou concretos; se nossas afirmações são melhor vistas como avanços num jogo linguístico ou como tentativas de afirmar verdades sobre o mundo; se o egoísta racional pode ser taxado de irracional, e tudo o mais. É natural para ele, depois de obter seu Ph.D, continuar a pensar e trabalhar sobre estes tópicos. E é natural, além disso, trabalhar neles da maneira que lhe foi ensinado, pensando sobre eles à luz de hipóteses apresentadas por seus mentores e em termos de ideias comumente aceitas sobre o ponto de partida de um filósofo, o que requer argumento e defesa, e como é uma explanação filosófica satisfatória ou uma solução apropriada a uma questão filosófica. Ele se sentirá desconfortável ao se separar desses tópicos e hipóteses, sentindo instintivamente que tais separações são no máximo marginalmente respeitáveis. A filosofia é uma em- preitada social e nossos padrões e hipóteses – os parâmetros dentro dos quais praticamos a filosofia – são ajustados por nossos mentores e pelos grandes centros contemporâneos de filosofia
De um ponto de vista isso é natural e apropriado, de outro, entretanto, é profundamente insatisfatório. As questões que eu mencionei são importantes e interessantes. Filósofos cristãos, entretanto, são os filósofos da comunidade cristã. E é parte de seu trabalho como filósofos cristãos servir à comunidade cristã. Mas a comunidade cristã tem suas próprias perguntas, suas próprias preocupações, seus próprios tópicos de investigação, sua própria agenda e seu próprio programa de pesquisa. Filósofos cristãos não devem tirar suas inspirações apenas do que está ocorrendo em Princeton ou Berkeley ou Harvard, atrativas e cintilantes como tais coisas podem ser; pois talvez esses tópicos não sejam os principais, ou talvez não os únicos que eles, como filósofos cristãos, devem pensar. Há outros tópicos filosóficos sobre os quais a comunidade cristã deve trabalhar, e outros tópicos sobre os quais a comunidade cristã deve trabalhar filosoficamente. E, obviamente, os filósofos cristãos são aqueles que devem fazer o trabalho filosófico exigido. Se eles concentrarem seus esforços a tópicos populares ao mundo filosófico não-cristão, eles estarão negligenciado uma parte central e crucial de seus trabalhos como filósofos cristãos. O que é necessário aqui é mais independência, mais autonomia em relação a projetos e preocupações do mundo filosófico não-teísta.
Mas algo mais é importante aqui. Suponha que o estudante mencionado vá para Harvard e lá estuda com Willard van Orman Quine. Ele se acha atraído pelas ideias e procedimentos de Quine: seu empirismo radical, sua fidelidade à ciência natural, sua inclinação ao behaviorismo, seu naturalismo, e seu gosto por paisagens desertas e sua parcimônia ontológica. Seria totalmente natural para ele se tornar envolvido nessas ideias e projetos, ver a filosofia frutífera e útil como substancialmente envolvida nesses projetos. Claro que ele notará certas tensões entre sua crença cristã e sua maneira de fazer filosofia e pode, depois, se esforçar para harmonizá-las. Ele devotará seu tempo e energia para entender e reinterpretar a crença cristã de modo a se tornar aceitável ao quiniano. Um filósofo que eu conheço, que embarcou num projeto desses, sugeriu que os cristãos de- veriam pensar em Deus como um conjunto (Quine está pro- penso a aceitar conjuntos): o conjunto de todas as proposições verdadeiras, talvez, ou o conjunto de ações certas, ou a união desses conjuntos, ou talvez seu produto cartesiano. Isso é compreensível. mas também vai numa direção muito errada. Quine é um filósofo brilhante: uma força filosófica, poderosa, original e hábil. Mas seus compromissos funda- mentais, seus projetos e preocupações fundamentais, são totalmente diferentes dos projetos e preocupações da comunidade cristã – totalmente diferentes e, de fato, contrários. E o resultado de tentar enxertar o pensamento cristão sobre suas visões básicas do mundo será no máximo uma bagunça nada íntegra e, no pior, comprometerá, distorcerá ou trivializará seriamente as alegações do teísmo cristão. O que é preciso é mais inteireza, mais integralidade.
Então o filósofo cristão tem seus próprios tópicos e projetos sobre os quais pensar. E e quando ele pensa sobre os tópicos correntes no mundo filosófico, ele vai pensá-los de sua própria maneira, que poderá ser uma maneira diferente. Ele poderá ter que rejeitar hipóteses bem aceitas sobre a empreitada filosófica – ele pode ter que rejeitar hipóteses aceitas em relação ao ponto de início e procedimentos da empreitada filosófica. E – e isso é muito importante – o filósofo cristão tem um direito perfeito sobre o ponto de vista e hipóteses pré-filosóficas que ele trás para o labor filosófico. O fato de que isso não é amplamente compartilhado fora da comunidade cristã ou teísta é interessante, mas fundamentalmente irrelevante. Eu posso explicar melhor o que penso através de um exemplo; então descerei do nível de explicações gerais para explicações mais específicas.
1.Teísmo e Verificabilidade
Primeiro, o temido “Critério de Verificabilidade de Sentido”. Durante os prósperos dias do positivismo lógico, a uns trinta ou quarenta anos atrás, os positivistas alegaram que a maio- ria das afirmações cristãs características – “Deus nos ama”, por exemplo, ou “Deus criou os céus e a terra” – nem sequer têm o privilégio de serem falsas. Elas são, diziam os positivistas, literalmente sem sentido. Não é que elas expressem proposições falsas; elas não expressam nada. Como a famosa citação de “Alice no País das Maravilhas”: “Era briluz. As lesmolisas touvas Roldavam e relviam nos gramilvos.” Tais afirmações não dizem nada falso, mas somente porque não dizem nada, elas são “cognitivamente sem sentido”, para usar a charmosa frase positivista. O tipo de coisa que teístas e outros têm dito por séculos, eles disseram, agora mostra- se sem sentido. Nós teístas fomos todos vítimas, parece, de um hoax cruel – perpetrado, talvez, por ambiciosos sacerdotes e imposto a nós por nossas próprias naturezas crédulas.
Agora se isso for verdadeiro, é de fato importante. Como os positivistas chegaram a esta surpreendente conclusão? Eles a inferiram a partir do Critério de Verificabilidade de Senti- do, que diz, mais ou menos o seguinte, que uma afirmação tem sentido somente se for ou analítica, ou sua veracidade ou falsidade puder ser determinada por investigação em- pírica ou científica – pelos métodos das ciências empíricas. Sobre essas bases não somente o teísmo e a teologia, mas muito da metafísica e da filosofia tradicionais e muito mais foram declaradas sem sentido, sem sentido literal algum. Alguns positivistas reconheceram que a metafísica e a teologia, apesar de serem sem sentido, ainda têm um certo valor limitado. Carnap, por exemplo, achava que elas eram algum tipo de música. Não se sabe se ele esperava que a teologia e a metafísica se sobrepusessem a Bach ou Mozart, ou até Wagner. Eu, entretanto, penso que elas poderiam substituir o rock. Hegel poderia tomar o lugar dos The Talking Heads; Immanuel Kant poderia tomar o lugar dos Beach Boys; e no lugar do The Grateful Dead poderíamos ter, talvez, Arthur Schopenhauer.
O positivismo tinha um gostoso ar de ser avant garde, moderno, e muitos filósofos o acharam extremamente atrativo. Além do mais, muitos dos que não o endossaram ainda dialogaram com ele com muita hospitalidade como sendo, no mínimo, extremamente plausível. Como consequência muitos filósofos – tanto cristãos como não-cristãos – viram nisso um verdadeiro desafio e um grande perigo ao cristianismo: “O maior perigo ao teísmo hoje,” disse J.J.C. Smart em 1955, “vem das pessoas que querem dizer que ‘Deus existe’ e ‘Deus não existe’ são afirmações igualmente ab- surdas”. Em 1955, o livro New Essays in Philosophical Theology surgiu, um volume de ensaios que ditariam o tom e os tópicos da filosofia da religião para a próxima década ou até mais. E muito deste volume tratava da discussão sobre o impacto do verificacionismo no teísmo. Muitos cristãos inclinados filosoficamente ficaram perturbados e perplexos e se sentiram profundamente ameaçados. Poderia mesmo ser verdade que os filósofos linguistas, de alguma for- ma, descobriram que as mais caras convicções dos cristãos eram, na verdade, simplesmente sem sentido? Havia muita ansiedade entre os filósofos, tanto teístas quanto aqueles simpáticos ao teísmo. Alguns sugeriram, em face do violento ataque positivista, que a comunidade cristã deveria re-
colher suas armas e recuar silenciosamente, admitindo que o critério da verificabilidade provavelmente era verdadeiro. Outros afirmaram que o teísmo é mesmo nonsense, mas é um nonsense importante. Ainda outros sugeriram que as afirmações em questão deveriam ser reinterpretadas de tal maneira a não afrontar os positivistas; alguém sugeriu seriamente, por exemplo, que os cristãos usassem, então, a sentença “Deus existe” como significando “alguns homens e mulheres tiveram, e têm, experiências chamadas de ‘encontro com Deus’”, ele acrescentou que quando dizemos “Deus criou o mundo a partir do nada” o que deveríamos entender é “tudo que chamamos de ‘material’ pode ser usado de tal maneira a contribuir com o bem-estar dos homens”. Em um contexto diferente, mas no mesmo espírito, Rudolf Bultmann iniciou seu projeto de demitologização do cristianismo. A tradicional crença cristã sobrenaturalista, disse ele, é “impossível na era da luz elétrica e redes sem-fio”. (Alguém poderia, talvez, imaginar um cético antigo tendo uma visão semelhante de, digamos, da imprensa, por exemplo, ou do papiro).
Por agora, é claro, o verificacionismo se retraiu à obscuridade que tanto merece, mas a moral continua. Essas tentativas de acomodar o positivismo foram totalmente inapropriadas. Eu entendo que olhar para o passado é mais claro do que para o futuro e eu não trouxe à tona este trecho da história intelectual recente para ser crítico de meus ante- passados ou para alegar que somos mais espertos que nossos pais: o que eu quero mostrar é que podemos aprender algo desse incidente. Pois os filósofos cristãos deveriam ter adotado uma atitude diferente em relação ao positivismo e seu critério de verificabilidade. O que deveriam ter dito aos positivistas é “Seu critério está errado: pois tais afirmações como ‘Deus nos ama’ e ‘Deus criou os céus e a terra’ têm um sentido claro; então se não são verificáveis no seu sentido, então é falso que só afirmações verificáveis nesse sentido são válidas”. O que era necessário aqui era menos acomodação à corrente vigente e mais autoconfiança cristã: o teísmo cristão é verdadeiro; se o teísmo cristão é verdadeiro, então o critério do verificacionismo é falso. Claro, se os verificacionistas tivessem dado argumentos convincentes para seu critério a partir de premissas aceitas pelos pensa- dores teístas ou cristãos, então talvez haveria um problema para o filósofo cristão. Então deveríamos ou concordar que o teísmo cristão é cognitivamente sem sentido, ou revisar ou rejeitar tais premissas. Mas os verificacionistas nunca apresentaram quaisquer argumentos convincentes. De fato, eles quase nem sequer apresentavam argumentos. Alguns simplesmente declaravam esse princípio como uma grande descoberta e, quando desafiados, repetiam-no em alto e bom som; mas por que isso deveria perturbar alguém? Outros propuseram isso como uma definição – uma definição do termo “sentido”. Agora é claro que os positivistas tinham o direito de usar este termo da maneira que escolheram; é um país livre. Mas como que a decisão deles de usar esse termo de uma maneira específica pode apresentar algo tão significativo como o fato de todos os crentes em Deus es- tarem iludidos? Se eu propuser o uso do termo “democrata” como tendo o significado de “um completo salafrário”, seguiria daí que os democratas deveriam se envergonhar? O meu ponto, para repetir, é que os filósofos cristãos deve- riam mostrar mais integridade, mais independência, menos prontidão em abraçar os predominantes ventos de doutrinas filosóficas e mais autoconfiança cristã.
2. Teísmo e a Teoria do Conhecimento
Posso apenas dar meu segundo exemplo indiretamente. Muitos filósofos alegaram encontrar um sério problema para o teísmo na existência do mal, ou na quantidade e tipos de males que encontramos. Muitos que alegaram encontrar nisso um problema para os teístas argumentaram o argumento dedutivo do mal: eles alegaram que a existência de um Deus onipotente, onisciente e totalmente bom é logicamente incompatível com a presença do mal no mundo – uma presença, inclusive, afirmada e enfatizada pelos teístas cristãos. Por sua vez, os teístas argumentaram não haver nenhuma inconsistência aqui. Acredito que o consenso presente, até mesmo entre aqueles que usaram de algum tipo de argumento do mal, é que sua forma dedutiva é insatisfatória.
Mais recentemente, filósofos alegaram que a existência de Deus, apesar de talvez não ser inconsistente com a existência desta quantidade e tipos de males que encontramos no mundo é, de alguma forma, improvável em relação a isso.; isto é, a probabilidade de Deus existir tendo em vista o mal que encontramos, é menor do que a probabilidade, em relação a mesma evidência, de Deus não existir – nenhum criador onipotente, onisciente e totalmente bom. Assim a existência de Deus é improvável em relação àquilo que sabemos. Mas, então, se a crença teísta é improvável em relação àquilo que sabemos, segue-se que é irracional ou, pelo menos, está num nível intelectual inferior aceitá-la.
Agora examinemos essa alegação brevemente. O objetor afirma que:
- Deus é um criador onipotente, onisciente e totalmente bom.
É improvável em relação a:
- Existem 10E+13 turps de mal
(Onde turp é a unidade básica do mal).
Eu argumentei algures que existem grandes dificuldades em torno da alegação de que (1) é improvável dado que (2). Chame esta resposta de “resposta secundária”. Aqui eu quero seguir no que eu chamo de resposta primária. Suponhamos que nós estipulássemos, para propósitos argumentativos, que (1) é, de fato, improvável dado (2). Vamos concordar que é improvável, dado a existência de 10E+13 turps de mal, que o mundo tenha sido criado por um Deus que é perfeito em poder, conhecimento e bondade. O que deveria seguir daí? Como isso se torna uma objeção à crença teísta? Como se segue daí o argumento do objetor? Não se segue, é claro, que o teísmo seja falso. Também não segue que alguém que aceite tanto (1) quanto (2) (e vamos acrescentar, reconhece que (1) é improvável em relação a (2)) tenha um sistema de crenças irracional ou está, de alguma maneira, culpado de impropriedade noética; obviamente pode haver pares de proposições A e B, tais que conhecemos tanto A quanto B, apesar do fato de que A é improvável em relação a B. Eu posso saber, por exemplo, que Feike é um frísio e que 9 em cada 10 frísios não sabem nadar, e ainda assim Feike sabe nadar; então eu estou obviamente dentro dos meus direitos intelectuais em aceitar ambas proposições, mesmo sendo a última improvável em relação à primeira. Então mesmo se houvesse um fato de que (1) é improvável em relação a (2), esse fato, não traria muitas consequências. Como, então, esta objeção pode ser desenvolvida?
Presumivelmente o que o objetor quer afirmar é que (1) é improvável, não somente em relação a (2), mas em relação a todo um corpo de evidências – talvez toda evidência que o teísta tem, ou talvez o corpo de evidências que ele é racionalmente obrigado a ter. O objetor deve estar supondo que o teísta tem um relevante corpo de evidências aqui, um corpo de evidências que inclui (2); e sua alegação é que (1) é improvável em relação a este corpo de evidências. Suponhamos que disséssemos que T é o corpo de evidências de um certo teísta T; e suponhamos que concordássemos que uma síntese é racionalmente aceitável para ele somente se não for improvável em relação a T. Agora que tipo de pro- posições devemos encontrar em T? Talvez as proposições que ele sabe serem verdadeiras, ou talvez o maior conjunto de crenças que ele pode aceitar sem evidências de outras proposições, ou talvez as proposições que ele conhece imediatamente – conhece, mas não conhece sobre as bases de outras proposições. Seja como for que caracterizemos esse conjunto T, a questão que eu proponho é esta: por que não pode a própria crença em Deus ser membro de T? Talvez o teísta tenha um direito de iniciar a partir da crença em Deus, tomando esta proposição como uma das que em relação a esta determina a propriedade racional de outras crenças que ele tenha. Mas se for assim, então o filósofo cristão está totalmente dentro de seus direitos ao começar a filosofar a partir de sua crença. Ele tem o direito de tomar a existência de Deus como pressuposto e começar o seu labor filosófico a partir daí – assim como outros filósofos têm o direito to- mar por pressuposto a existência do passado ou, digamos, de outras pessoas, ou as alegações básicas da física contem- porânea. E isso me leva ao meu ponto aqui. Muitos filósofos cristãos parecem pensar de si mesmos como filósofos engajados junto dos filósofos ateus e agnósticos numa busca co- mum pela correta posição filosófica quanto à questão de se há tal pessoa como Deus. É claro que o filósofo cristão terá suas próprias convicções privadas neste ponto; ele acreditará, é claro, que há de fato tal pessoa como Deus. Mas ele pensará, ou tenderá a pensar, que como filósofo ele não tem direito a esta posição a menos que esteja apto a mostrar que esta crença segue de, ou é provável, ou justificada em relação a premissas aceitas por todos os partidos envolvidos na discussão – teístas, agnósticos ou ateístas. Além do mais, ele estará propenso a pensar que não tem direitos, como filósofo, a posições que pressupõem a existência de Deus se ele não puder demonstrar que essa crença é justificada de outras maneiras. O que eu quero argumentar é que a comunidade filosófica cristã não deve pensar de si mesma como engajada nesse esforço comum em determinar a probabilidade ou a plausibilidade filosófica da crença em Deus. O filósofo cristão muito apropriadamente começa a partir da crença em Deus, e a pressupõe em seu labor filosófico, sendo ou não capaz de demonstrá-la como provável ou plausível em relação às premissas aceitas por todos os filósofos, ou a maioria dos filósofos nos grandes centros filosóficos contemporâneos.
Tomando como pressuposto, por exemplo, que há tal pessoa como Deus e que nós estamos, de fato, dentro de nossos direitos epistêmicos (sendo justificados nesse sentido) em acreditar que há um Deus, o epistemólogo cristão pode
perguntar o que é que confere justificação a crença: em virtude de que está o teísta justificado? Talvez haja diversas respostas possíveis. Uma das que ele pode apresentar é a de João Calvino (e, antes dele, da tradição Agostiniana, Ansel- miana, Boaventuriana da Idade Média): Deus, disse Calvino, incutiu no ser humano uma tendência, uma propensão, ou uma disposição a acreditarem nele:
“Está fora de discussão que é inerente à mente humana, certamente por instinto natural, algum sentimento da divindade. A fim de que ninguém recorra ao pretexto da ignorância. Deus incutiu em todos uma certa compreensão de sua deidade… Então, de tal perspectiva, desde o começo do mundo, nenhuma cidade, nenhuma casa existiria que pudesse care- cer de religião. Nisso há uma tácita confissão: está inscrito no coração de todos um sentimento de divindade”.
A alegação de Calvino, então, é que Deus nos criou de tal forma que tivéssemos por natureza uma forte tendência ou inclinação ou disposição em direção à crença nele.
Apesar de esta disposição a acreditar em Deus ter sido, em parte, suprimida pelo pecado ainda assim está universal- mente presente. E é disparada por condições amplamente compreendidas:
Para que ninguém, então, seja excluído do acesso à felicidade, ele não só plantou na mente do homem a semente da religião da qual já falamos, mas se revela diariamente na construção do universo. Como consequência o homem não pode abrir seus olhos sem ser compelido a vê-lo.
Como Kant, Calvino ficou impressionado com essa conexão, pela admirável estrutura dos estrelados céus acima:
Mesmo o povo mais comum e o menos instruído, que foram ensinados apenas por seus próprios olhos, não podem deixar de perceber a excelência da arte divina, pois esta se revela em sua inumerável e ainda distinta e ordenada variedade.
O que Calvino diz sugere que alguém que adere a esta tendência e nessas circunstâncias aceita a crença de que Deus criou o mundo – talvez ao observar o céu estrelado, ou a esplêndida majestade das montanhas, ou a beleza complexa e articulada de uma pequena flor – está tão racional e justificado quanto alguém que acredita ver uma árvore por ter o tipo de experiência visual que nos sugere estarmos vendo uma árvore.
Sem dúvida, essa sugestão não convenceria o cético; toma- da como uma tentativa de convencer o cético ela é circular. Meu ponto é somente este: o cristão tem suas próprias perguntas para responder, e seus próprios projetos; esses projetos podem não se entrosar com aqueles dos filósofos céticos ou descrentes. Ele tem suas próprias questões e seu próprio ponto de partida ao investigar tais questões. É claro, eu não quero sugerir que o filósofo cristão deve aceitar a resposta de Calvino à questão mencionada acima, mas eu digo que é perfeitamente apropriado para ele dar a essa questão uma resposta que pressupõe precisamente aqui- lo do que o cético é cético – mesmo se esse ceticismo for quase unânime na maioria dos prestigiados departamentos de filosofia de nossos dias. O filósofo cristão, de fato, tem uma responsabilidade para com o mundo filosófico, mas sua responsabilidade fundamental é com a comunidade cristã, e finalmente com Deus.
Novamente, o filósofo cristão pode estar interessado na relação entre fé e razão, entre fé e conhecimento. Concedido que afirmamos algumas coisas por fé e sabemos outras coisas: concedido que creiamos que há tal pessoa como Deus e que a crença teísta é verdadeira; nós também sabemos que Deus existe? Aceitamos tal crença por fé ou razão? O teísta pode estar inclinado em direção a uma teoria do conheci- mento confiabilista; ele pode estar inclinado a pensar que uma crença verdadeira constitui conhecimento se for pro- duzida por um mecanismo produtor de crenças confiável. (Há problemas difíceis aqui, mas ignoremo-los por enquanto). Se o teísta acha que Deus nos criou com o sensus divinitatis de que Calvino fala, ele vai afirmar que, de fato, há um mecanismo produtor de crenças confiável que produz a crença teísta; ele, então, afirmará que sabemos que Deus existe. Alguém que siga Calvino aqui vai afirmar também que a capacidade de compreender a existência de Deus é parte do nosso equipamento intelectual ou noético como é a capacidade de compreender verdades de lógica, verdades perceptivas, verdades sobre o passado, e verdades sobre outras mentes. A crença na existência de Deus está, então, no mesmo barco que estão as crenças nas verdades da lógica, outras mentes, o passado, objetos perceptivos; em cada caso Deus nos construiu de tal forma que nas circunstâncias corretas adquirimos a crença em questão. Mas então a crença de que há um Deus está entre as sentenças de nossas faculdades noéticas naturais assim como estão aquelas outras crenças. Assim nós sabemos que há tal pessoa como Deus, e não somente cremos nisso; e não é por fé que compreendemos a existência de Deus, mas pela razão; e isso independente do sucesso de qualquer argumento teísta clássico.
Meu ponto não é que o filósofo cristão deva seguir Calvino aqui. Meu ponto é que o filósofo cristão tem um direito (eu diria um dever) de trabalhar nos seus próprios projetos – projetos definidos pelas crenças da comunidade cristã da qual ele é parte. A comunidade filosófica cristã deve trabalhar as respostas às suas questões; e tanto as questões como a maneira apropriada de desenvolver as respostas pode pressupor as crenças rejeitadas pelos principais centros filosóficos. Mas o cristão está procedendo muito apropriadamente ao começar a partir destas crenças, mesmo se forem rejeitadas. Ele não está sob nenhuma obrigação de confinar seus projetos de pesquisa àqueles exercidos na- queles centros, ou de exercer seus projetos sob as hipóteses que prevalecem lá.
Talvez eu possa explicar melhor o que eu quero dizer contrastando com uma visão totalmente diferente. De acordo com o teólogo David Tracy,
De fato, o teólogo cristão moderno não pode eticamente fazer nada além de desafiar o tradicional autoentendimento do teólogo. Ele não mais vê seu trabalho como uma simples defesa ou até mesmo uma reinterpretação ortodoxa da crença tradicional. Ao invés, ele acha que seu comprometimento ético à moralidade do conhecimento científico o força a assumir uma postura crítica em relação às suas pró- prias crenças tradicionais… Em princípio, a lealdade fundamental do teólogo como teólogo é à moralidade do conhecimento científico compartilhada com seus colegas, os filósofos, historiadores e demais ciências sociais. Não mais eles podem assumir suas próprias crenças ou tradições como garantias para seus argumentos. De fato, em toda empreitada teológica apropriada, a análise deveria ser caracterizada por aquelas mesmas posturas éticas do julgamento autônomo, julgamento crítico e o apropriado ceticismo que caracteriza as análises em outras áreas. [3]
Além do mais, essa
“moralidade do conhecimento científico insiste que cada pesquisador inicie com os métodos e conhecimento do campo em questão, a menos que alguém tenha evidências do mesmo tipo lógico para rejeitar esses métodos e esse conhecimento”.
Mais ainda,
“para a nova moralidade científica, a lealdade fundamental de alguém como analista de qualquer e todas alegações cognitivas é somente a esses procedimentos metodológicos que a comunidade científica em questão desenvolveu.” (6).
Eu digo caveat lector: Estou pronto para apostar que essa “nova moralidade científica” é como o Sacro Império Romano: não é nem nova nem científica nem moralmente obrigatória. Além do mais, a “nova moralidade científica” me parece tremendamente desfavorável como postura para um teólogo cristão, moderno ou não. Mesmo se houvesse um conjunto de procedimentos metodológicos defendidos pela maioria dos filósofos, historiadores e cientistas sociais, ou a maioria dos filósofos, historiadores e cientistas sociais seculares, por que deveria o teólogo cristão ser leal a esse conjunto ao invés de, digamos, a Deus, ou às verdades funda- mentais do cristianismo? A sugestão de Tracy sobre como os teólogos cristãos devem proceder parece pouco promete- dora. É claro que sou somente um filósofo, não um teólogo moderno; sem dúvida estou me aventurando para além dos meus domínios. Portanto, não pretendo falar para teólogos modernos; mas, ainda assim, as coisas valem para eles, o filósofo cristão moderno tem um direito, como filósofo, de começar a partir de sua crença em Deus. Ele tem o direito de assumi-la, pressupô-la em seu labor filosófico – independentemente de poder convencer seus colegas descrentes de que essa crença é verdadeira ou corroborada por aqueles “procedimentos metodológicos” que Tracy menciona.
E a comunidade filosófica cristã deve se preocupar com as questões filosóficas importantes para a comunidade cristã. Deve seguir com o projeto de explorar e desenvolver as implicações do teísmo cristão para todo tipo de questões que os filósofos fazem e respondem. Deve fazer isso independente de poder convencer a maioria da comunidade filosófica de que há de fato um Deus, ou de que é racional ou razoável acreditar que há. Talvez o filósofo cristão possa convencer o filósofo cético ou descrente de que há um Deus. Talvez seja possível em alguns casos. Em outros casos, é claro, pode ser impossível; mesmo se o cético aceitar premissas a partir das quais a crença cristã se segue por argumentos que ele também aceita, ele pode, quando ciente desta situação, desistir de tais premissas ao invés de sua descrença (Dessa maneira é possível reduzir alguém do conhecimento à ignorância apresentando um argumento que ele creia ser válido a par- tir de premissas que ele saiba serem verdadeiras).
Mas sendo isso possível ou não, o filósofo cristão tem outras questões com as quais se preocupar. É claro que ele deve ouvir, entender, e aprender da comunidade filosófica e ele deve assumir seu lugar lá, mas seu trabalho como filósofo não está restrito ao que o cético ou o resto do mundo filosófico acha do teísmo. Justificar ou tentar justificar a crença teísta para a comunidade filosófica não é a única tarefa da comunidade filosófica cristã; talvez não esteja nem entre suas tarefas mais importantes. A filosofia é uma empreitada comunitária. O filósofo cristão que observa exclusivamente o mundo filosófico externo à comunidade cristã, que pensa de si mesmo como pertencente primariamente àquele mundo, corre um risco duplo. Ele pode vir a negligenciar uma parte essencial de sua tarefa como filósofo cristão; e pode vir a se encontrar usando princípios e procedimentos que não se encaixam bem com suas crenças como cristão. O que é preciso, mais uma vez, é autonomia e integralidade.
Meu terceiro exemplo tem a ver com antropologia filosófica: como deveríamos pensar sobre as pessoas humanas? Que tipo de coisa, fundamentalmente, são as pessoas? O que é ser uma pessoa, o que é ser uma pessoa humana, e como deveríamos pensar a pessoalidade? Como, em particular, os cristãos, filósofos cristãos, deveriam pensar sobre tais coisas? O primeiro ponto a notar é que na visão cristã, Deus é a pessoa principal, o primeiro e exemplar-chefe de pessoalidade. Deus, além do mais, criou o homem à sua imagem; nós, homens e mulheres, somos portadores da imagem de Deus. E as propriedades mais importantes para o entendimento de nossa pessoalidade são as propriedades que compartilhamos com ele. O que pensamos sobre Deus, então, terá um efeito imediato e direto na maneira como vemos a raça humana. É claro que aprendemos muito sobre nós mesmos por outras fontes – da observação diária, por exemplo, da introspecção e auto-observação, da investigação científica e assim por diante. Mas é também perfeitamente apropriado começar a partir daquilo que sabemos como cristãos. Não é o caso que a racionalidade, ou o método filosófico apropria- do, ou a responsabilidade intelectual, ou a nova moralidade científica, ou qualquer coisa, requeiram que comecemos a partir de crenças compartilhadas com todo mundo – o que o senso comum e a ciência corrente ensinam, e.g. – para arrazoar ou justificarmos as crenças que temos como cristãos. Ao tentarmos prover um relato filosófico satisfatório de alguma área ou fenômeno, podemos apropriadamente apelar, no nosso relato ou explanação, a qualquer coisa que já cremos racionalmente – seja isso a ciência corrente ou a doutrina cristã.
Deixe-me prosseguir novamente para exemplos específicos. Há uma linha divisória fundamental, na filosofia antropo- lógica, entre aqueles que veem o ser humano como livre – livre no sentido libertário (livre-arbítrio) – e aqueles que aderem ao determinismo. De acordo com os deterministas, toda ação humana é uma consequência de condições iniciais que fogem ao nosso controle por leis causais que também fogem ao nosso controle. Algumas vezes, por trás dessa alegação, há uma retratação do universo como uma enorme máquina onde todos os eventos, em nível macros- cópico, incluindo as ações humanas, são determinados por eventos prévios e por leis causais. Nessa visão, toda ação que eu realizei aconteceu de tal forma que não estava sob meu controle refreá-la.; e se, numa dada ocasião eu não realizei uma determinada ação, então não estava sob meu controle realizá-la. Se eu levantar meu braço, então, na vi- são em questão, não estava sob meu controle não levantá-lo. O pensador cristão tem uma posição nessa controvérsia pelo simples fato de ser cristão. Já que ele acreditará que Deus nos vê como responsáveis por muito do que fazemos – responsáveis e também apropriadamente sujeitos a louvor ou culpa, aprovação ou desaprovação. Mas como eu posso ser responsável pelas minhas ações, se não estava sob meu controle realizar qualquer ação que de fato eu não realizei, e também não estava sob meu controle refrear qualquer coisa que eu realizei? Se minhas ações são determinadas assim, então não posso ser responsabilizado por elas; mas Deus não faz nada impróprio ou injusto, e ele me vê como responsável pelas minhas ações; assim não é o caso que todas minhas ações são determinadas. O cristão tem uma razão inicial forte para rejeitar a alegação de que todas nossas ações são causalmente determinadas – uma razão mui- to mais forte do que os argumentos escassos e anêmicos que o determinista pode reunir do outro lado. É claro que se houvesse fortes argumentos do outro lado, então haveria um problema aqui. Mas não há, portanto não há problema algum.
O determinista pode responder que a liberdade e o determinismo causal são, contrariando aparências iniciais, de fato compatíveis. Ele pode argumentar que ser livre em relação a uma ação realizada no tempo t por exemplo, não implica di- zer que não estava sob meu controle refreá-la, mas somente algo mais fraco – talvez algo como se eu tivesse escolhido não realizá-la, eu não a teria realizado. De fato, o compatibilista vai além. Ele vai afirmar, não somente que a liberdade é compatível com o determinismo, mas que a liberdade requer o determinismo. Ele vai afirmar, assim como Hume, que a proposição S é livre em relação a uma ação A ou que S faz A livremente implica que S é causalmente determinado em relação a A – que há leis causais e condições antecedentes que juntas implicam tanto que S realize A ou que S não realize A. Ele manterá a alegação insistindo que se S não é assim determinada em relação a A, então é simplesmente uma questão de acaso – que se deve, talvez, aos efeitos quantum no cérebro de S – que S realiza A . Mas se é só uma questão de acaso S realizar A então ou S não realiza A, ou S não é responsável por realizar A. Se S realizar A é só uma questão de acaso, então S realizar A é algo que simplesmente acontece a S; mas não é realmente o caso de que S realize A – de qualquer forma não é o caso que S seja responsável por realizar A. E assim a liberdade, no sentido que é requeri- do para a responsabilidade, requer o determinismo.
Mas o pensador cristão vai achar essa alegação incrivelmente implausível. Presumivelmente o determinista quer dizer que o que ele diz caracteriza ações gerais, não somente aquelas dos seres humanos. Ele vai assegurar que é uma verdade necessária que se um agente não é levado a rea- lizar uma ação então é simplesmente obra do acaso que o agente em questão realize esta ação. De uma perspectiva cristã, entretanto, isso é muito incrível. Já que Deus realiza ações, e realiza ações livremente; e certamente não é o caso de que há leis causais e condições antecedentes fora de Seu controle que determinem o que Ele faz. Pelo contrário: Deus é o autor das leis causais que existem; de fato, talvez a melhor maneira de pensar essas leis causais é como registros das maneiras que Deus trata normalmente as criaturas que ele criou. Mas é claro que não é simplesmente obra do acaso Deus fazer o que faz – criar e sustentar o mundo, digamos, e oferecer redenção e renovo para seus filhos. Então o filósofo cristão tem uma ótima razão para rejeitar essa pre- missa, junto com o determinismo e o compatibilismo que ela suporta.
O que está realmente em questão nessa discussão é a noção de agente causal: a noção de uma pessoa como fonte última de uma ação. De acordo com os partidários do agente cau- sal, alguns eventos são causados, não por outros eventos, mas por substâncias, objetos – tipicamente agentes pessoais. E pelo menos desde a época de David Hume, a ideia de agente causal tem se enfraquecido. É justo dizer, eu acho, que a maioria dos filósofos cristãos que trabalham nesta área rejeitam o agente causal completamente ou suspeitam dessa ideia. Eles veem a causação como uma relação entre eventos; eles conseguem entender como um evento causa outro evento, ou como eventos de um tipo podem causar eventos de outro tipo. Mas a ideia de uma pessoa, digamos, causando um evento, lhes parece ininteligível, a menos que possa ser analisada, de alguma forma, em termos de evento causal. É essa devoção ao evento causal, é claro, que explica a alegação de que se você realiza uma ação mas não é causado, então sua realização da ação é obra do acaso. Pois se eu afirmar que toda causação é ultimamente um evento causal, então eu vou supor que se você realiza uma ação mas não é causado por eventos prévios, então sua realização da ação não é causada e é, portanto, obra do acaso.
O devoto do evento causal, além do mais, vai argumentar, talvez, da seguinte maneira: se tais agentes como pessoas causam efeitos que acontecem no mundo físico – o movi- mento do meu corpo de uma certa maneira, por exemplo – então esses efeitos devem ser causados ultimamente por volições ou empreendimentos – os quais, aparentemente, são eventos imateriais e não-físicos. Ele alegará, então, que a ideia de um evento imaterial ter eficácia causal no mundo físico é enigmática, ou dúbia ou pior.
Mas o filósofo cristão achará esse argumento pouco expressivo e sua devoção ao evento causal incompatível. O cristão já acredita que os atos de volição têm eficácia causal; ele acredita de fato, que o universo físico deve sua própria existência a tais atos volitivos – A vontade de Deus de criá-lo. E quanto à devoção ao evento causal, o cristão estará, inicial- mente, fortemente inclinado a rejeitar a ideia de que evento causal é primário e o agente causal deve ser explicado em relação a isso. Pois ele acredita que Deus faz e fez muitas coisas: ele criou o mundo; ele o sustenta; ele se comunica com seus filhos. Mas é extraordinariamente difícil ver como tais verdades podem ser analisadas em termos de relações causais entre eventos. Que eventos poderiam fazer Deus criar o mundo? O próprio Deus institui ou estabelece as leis causais que existem; como, então, podemos ver todos os eventos feitos por sua ação como relacionados a leis causais anteriores? Como poderíamos explicar em termos de evento causal proposições que atribuem ações a ele?
Alguns pensadores teístas notaram este problema e reagiram diminuindo a atividade causal de Deus, ou seguindo impetuosamente Kant ao declarar que isso é de uma es- fera totalmente diferente da qual nós estamos engajados, uma esfera além da nossa compreensão. Eu acredito que essa resposta é errada. Por que um filósofo cristão deveria
se juntar à reverência geral ao evento causal? Não é que haja argumentos convincentes aqui. A verdadeira força por trás desta alegação é uma certa maneira filosófica de ver as pessoas e o mundo; mas esta visão não tem nenhuma plausibilidade inicial do ponto de vista cristão e não tem nenhum argumento convincente em seu favor.
Então, nestes pontos controversos da antropologia filosófica, o teísta terá uma forte predileção inicial para resolver a disputa de um jeito ao invés de outro. Ele tenderá a rejeitar o compatibilismo, e afirmar que o evento causal (se houver tal coisa) deve ser explicado em termos de agente causal, a rejeitar a ideia de que se um evento não é causado por outros eventos, então sua ocorrência é questão de acaso, e rejeitar a ideia de que eventos no mundo físico não podem ser causados pela deliberação de um agente. E o meu ponto aqui é esse: o filósofo cristão está dentro de seus direitos ao afirmar tais posições, podendo ou não convencer o resto do mundo filosófico e seja lá qual for o consenso filosófico corrente, se houver um consenso. Mas esse apelo a Deus e suas propriedades, nesse contexto filosófico, não seria um vergonhoso apelo a um deus ex machina? Certamente que não. “A filosofia”, como Hegel uma vez disse num raro lance de lucidez, “é pensar sobre as coisas”. A filosofia é, em grande parte, uma clarificação, sistematização, articulação, relacionamento e aprofundamento de uma opinião pré-filosófica. Nós vamos à filosofia com muitas opiniões sobre o mundo e a natureza humana e o lugar deste naquele; e na filosofia nós pensamos sobre esses assuntos, articulamos sistematicamente nossas visões, juntamos e relacionamos nossas visões sobre diversos tópicos, e aprofundamos nossas visões ao encontrarmos interconexões não esperadas e descobrindo resposta a questões ainda não formuladas. É claro que podemos mudar nosso pensamento em virtude da empreitada filosófica; podemos descobrir incompatibilidades ou outras infelicidades. Mas vamos à filosofia com opiniões pré-filosóficas; é assim que acontece. E o ponto em questão é: o cristão tem tanto direito às suas opiniões pré- filosóficas quanto os outros tem às deles. Ele não precisa ‘prová-las’ a partir de proposições aceitas por, digamos, a grande parte da comunidade filosófica não-cristã; e se forem rejeitadas como ingênuas, pré-cientifícas, primitivas, ou indignas de “homens eruditos”, não há nada contra elas. É claro que se houvesse argumentos genuínos e substanciais contra elas a partir de premissas legítimas para o filósofo cristão, então haveria um problema; ele deveria mudar algo. Mas na ausência de tais argumentos – e a ausência de tais argumentos é evidente – a comunidade filosófica cristã, começa apropriadamente, na filosofia, a partir daquilo que ela acredita.
Isso significa que a comunidade filosófica cristã não precisa dedicar todos seus esforços à tentativa de refutar alegações opostas e argumentos a partir de outras premissas; premissas aceitas pela comunidade filosófica não-cristã. Ela deve fazer isso, de fato, mas deve fazer mais. Pois se ela fizer somente isso, negligenciará uma importante tarefa filosófica: sistematizar, aprofundar e clarificar o pensamento cristão sobre esses tópicos. Então, novamente: meu apelo é para que o filósofo cristão, a comunidade filosófica cristã, demonstre, primeiro, mais independência e autonomia: não precisamos trabalhar somente em projetos de pesquisa aceitos e trabalhados pela popularidade; temos nossas próprias questões para refletirmos. Segundo, devemos demonstrar mais integridade. Não podemos assimilar automaticamente o que é corrente ou está na “moda” ou é popular no procedimento e opinião filosófica; pois muito disso é nocivo ao pensamento cristão. E finalmente, devemos demonstrar mais auto-confiança cristã, ou coragem ou ousadia. Temos perfeito direito às nossas visões pré-filosóficas: por que, então, deveríamos nos intimidar pelo que o resto do mundo filosófico acha que é plausível ou implausível?
Esses são meus exemplos; eu poderia ter escolhido outros. Em ética, por exemplo: talvez o principal interesse teorético, da perspectiva cristã, é a questão sobre como o certo e o errado, o bom e o mal, o dever, a permissão e a obrigação se relacionam com Deus e sua vontade e sua atividade criativa? Essa pergunta não surge, naturalmente, de uma perspectiva não-teísta; e então, naturalmente, eticistas não-cristãos não tratam dela. Mas talvez seja a questão mais importante para um eticista cristão trabalhar. Eu já falei sobre epistemologia; deixe-me mencionar outro exemplo desta área. Epistemólogos, às vezes, se preocupam com a abundância ou falta de justificação epistêmica, por um lado, e verdade ou confiabilidade, do outro. Suponhamos que fizéssemos o máximo que se espera de nós, falando noeticamente; suponhamos que fizéssemos nossos deveres intelectuais e satisfizéssemos nossas obrigações intelectuais: que garantia haveria de que ao fazermos isso chegaríamos à verdade? Há alguma razão para supor que se satisfizéssemos nossas obrigações, teríamos uma melhor chance de nos aproximar da verdade do que se as desprezássemos? E de onde vêm essas obrigações intelectuais? Como as adquirimos? Aqui o teísta tem, se não um claro conjunto de respostas, pelo menos claras sugestões em direção de um conjunto de respostas. Outro exemplo: o antirrealismo criativo está popular entre os filósofos; essa é a visão que afirma que é o comportamento humano – em particular, o pensamento e a linguagem humanas – o responsável pelas estruturas fundamentais do mundo e pelos tipos fundamentais de entidades que exis- tem. De um ponto de vista teísta, entretanto, o antirrealismo criativo universal é no máximo uma mera impertinência, uma fanfarronice risível. Pois Deus, é claro, não deve sua existência nem suas propriedades a nós e nossas maneiras de pensar; a verdade é o contrário. Apesar de o universo, de fato, dever sua existência a atividade de uma pessoa, tal pessoa não é, certamente, uma pessoa humana.
Um exemplo final, dessa vez oriundo da filosofia da mate- mática. Muitos que pensam sobre conjuntos e sua natureza tendem a aceitar as seguintes ideias. Primeira, nenhum conjunto é membro de si mesmo. Segunda, ao passo que uma propriedade tem sua extensão contigentemente, um conjunto tem sua filiação (membership) essencialmente. Isso significa que nenhum conjunto poderia existir se um de seus membros não existisse, e que nenhum conjunto poderia ter menos ou mais membros do que aqueles que de fato tem. Isso significa, além do mais, que conjuntos são seres contingentes; se Ronald Reagan não existisse, então seu conjunto não teria existido. E terceira, conjuntos formam um certo tipo de estrutura repetida: no primeiro nível há conjuntos cujos membros são não-conjuntos, no segundo nível há conjuntos cujos membros são não-conjuntos ou conjuntos de primeiro nível; no terceiro nível há conjuntos cujos membros são não-conjuntos ou conjuntos dos primeiros dois níveis, e por aí vai. Muitos também tendem, junto a George Cantor, a considerar conjuntos como coleções – como objetos cuja existência é dependente sobre um certo tipo de atividade intelectual – uma coleção ou “pensamento conjunto” como Cantor colocou. Se os conjuntos fossem coleções deste tipo, isso explicaria sua demonstração das três características que eu mencionei. Mas se a coleção ou pensamento conjunto tivesse que ser feito por pensadores humanos, ou por qualquer pensador finito, não haveria conjuntos suficientes – nem perto da quantidade que pensamos De um ponto de vista teísta, a conclusão natural é que conjuntos devem sua existência ao pensamento de Deus. A explicação natural dessas três características é simplesmente que conjuntos são, de fato, coleções – coleções colecionadas por Deus; elas são ou resultam do pensamento de Deus. Essa ideia pode não ser popular nos centros contemporâneos de teoria dos conjuntos, mas não é nem aqui nem lá. Cristãos, teístas, devem entender os conjuntos de uma perspectiva cristã e teísta. O que eles creem como teístas proporciona um recurso para entender conjuntos que não está disponível ao não-teísta; e por que eles não deveriam utilizar esse recurso? Talvez aqui nós poderíamos proceder sem apelar àquilo que cremos como teístas; mas por que deveríamos, se tais crenças são úteis e explanatórias? Eu poderia provavelmente chegar em casa hoje pulando numa perna só; e talvez pudesse escalar a Torre do Diabo com meus pés ata- dos. Mas por que eu iria querer isso?
O filósofo cristão ou teísta, então, tem sua própria maneira de trabalhar. Em alguns casos existem alguns itens em sua agenda – itens importantes – não encontrados na agenda da comunidade filosófica não-teísta. Em outros casos, itens em alta na comunidade filosófica podem parecer de pouca importância de uma perspectiva cristã. Em ainda outros, o teísta rejeitará hipóteses e visões comuns sobre como iniciar, como proceder, e o que constitui uma resposta boa ou satisfatória. Em ainda outros casos o cristão vai presumir e vai começar a partir de hipóteses ou premissas rejeitadas pela maior parte da comunidade filosófica. É claro que eu não estou sugerindo que os filósofos cristãos não têm nada a aprender de seus colegas não-cristãos ou não-teístas; isso seria arrogância tola, e totalmente rechaçada pelos fatos. Nem estou sugerindo que o filósofo cristão deveria se re- trair em isolamento, tendo pouco a ver com os filósofos não teístas. É claro que não! Os cristãos têm muito a aprender, inclusive dialogando e discutindo com seus colegas não-teístas. Filósofos cristãos devem estar intimamente envolvi- dos na vida profissional da comunidade filosófica, tanto por causa do que ele pode aprender como por causa daquilo com o que ele pode contribuir. Além do mais, enquanto os filósofos cristãos não precisam e não devem se ver como envolvidos, por exemplo, no esforço comum em determinar se há ou não uma pessoa como Deus, estamos nós, tanto teístas quanto não-teístas, engajados no projeto humano de entender a nós e o mundo no qual nos encontramos. Se a comunidade filosófica cristã está fazendo seu trabalho apropriadamente, estará engajada numa discussão complicada e dialética multifacetada, fazendo sua própria contribuição a esse projeto humano comum. A comunidade deve prestar cuidadosa atenção a outras contribuições; deve buscar um profundo entendimento delas; deve aprender o que puder delas e deve levar a descrença com bastante seriedade.
Tudo isso é verdadeiro e importante; mas nada disso vai de encontro ao que eu tenho dito. A filosofia é muitas coisas. Eu disse antes que é uma questão de sistematizar, desenvolver e aprofundar as opiniões pré-filosóficas. É isso, mas também é uma arena para articulação e intercâmbio de compromissos e lealdades fundamentalmente religiosas por natureza; é uma expressão de perspectivas profundas e fundamentais, maneiras de ver a nós mesmos, o mundo e Deus. Entre seus mais importantes projetos estão a sistematização, aprofundamento, a exploração e a articulação dessa perspectiva, e explorar suas implicações no resto do que pensamos e fazemos. Mas então a comunidade filosófica cristã tem sua própria agenda; ela não precisa e não deve automaticamente tomar seus projetos da lista daqueles projetos favoritos nos centros filosóficos contemporâneos de ponta. Além do mais, os filósofos cristãos devem estar cautelosos quanto a assimilar ou aceitar procedimentos e ideias filosóficas populares; pois muitas delas têm raízes profundamente anti-cristãs. E finalmente a comunidade filosófica cristã tem um direito às suas perspectivas; ela não está sob nenhuma obrigação de mostrar que tais perspectivas são plausíveis em relação àquilo que é tomado como verdade por todos filósofos, ou a maioria dos filósofos, ou os prominentes filósofos de nossos dias.
Em resumo, nós que somos cristãos e nos propomos a ser filósofos não devemos nos contentar em sermos filósofos que, por acaso, são cristãos; devemos nos esforçar em sermos filósofos cristãos. Nós devemos, portanto, prosseguir com nossos projetos com integridade, independência, e ousadia cristã.[4]
NOTAS
-
- “The Probabilistic Argument from Evil,” Philosophical Studies, 1979, pp. 1-53.
- A Instituição da Religião Cristã (UNESP, 2007). Livro. 1, Cap. III, pp. 43-44.
- Blessed Rage for Order (New York: Seabury Press), 1978, p.
- Proferido em 04 de Novembro de 1983, como o discurso inaugural do autor como Professor John A. O’Brien de Filosofia na Universidade de Notre Dame.
Série “Diálogo & Antítese: textos fundamentais em religião e ciências humanas”
A Série “Diálogo & Antítese: textos fundamentais em religião e ciências humanas” é uma iniciativa da ABC2-H, o grupo de Humanidades da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Com o propósito de iluminar o papel da fé na compreensão científica do ser humano e de fomentar a mútua fertilização entre a fé Cristã e as humanidades, a série será composta de textos teóricos introdutórios e artigos clássicos selecionados sobre as questões centrais do diálogo contemporâneo. A série é recomendada para discussões metodológicas em teologia, filosofia e humanidades, bem como para grupos de leitura em religião e ciências humanas. Ela será publicada inicialmente no site da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência – www.cristaosnaciencia.org.br. Informações e dúvidas, envie e-mail para contato@cristaosnaciencia.org.br.
Editores: Guilherme de Carvalho, Marcelo Cabral e Pedro Dulci
Dados da publicação: Novembro/2018
Leia aqui todos os artigos da série.

Alvin Plantinga é um filósofo analítico americano, que trabalha principalmente em lógica, justificação, filosofia cristã e epistemologia. Ele é o autor de importantes trabalhos, incluindo Deus e Outras Mentes (1967), A Natureza da Necessidade (1974) e uma trilogia de livros sobre epistemologia, que culminaram em Warranted Christian Belief (2000) que foi simplificado com o livro Conhecimento e Crença Cristã (2016). Seu livro Crença Cristã Avalizada foi lançado no Brasil recentemente pela editora Vida Nova em parceria com a ABC².
Outros artigos da série Diálogo e Antítese: Sobre a erudição acadêmica cristã, Alvin Plantinga

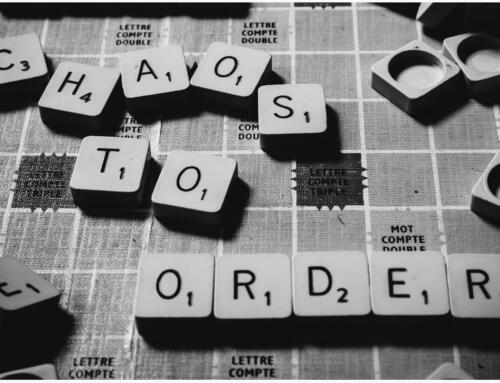



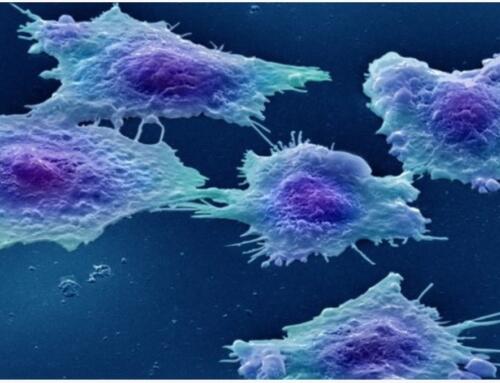
[…] Outros artigos da série Diálogo e Antítese: Conselho aos Filósofos Cristãos, por Alvin Plantinga […]