
por Tiago Garros
Quando falamos sobre o diálogo entre religião e ciência, a maioria das pessoas, nos dias de hoje, sabe mais ou menos o que estamos querendo dizer. Para muitos, trata-se de um diálogo impossível, em que uma área não tem nada a dizer para a outra: ou são inimigas mortais disputando o mesmo terreno em uma batalha pela verdade do universo ou, no mínimo, são independentes – em que uma diz para a outra “não meter sua colher”.
Mas o fato é que quando olhamos para o passado, vemos que nem sempre foi assim. E não porque as atividades da ciência e as religiões tenham essencialmente “evoluído” ao longo do tempo, mas sim porque os termos ciência e religião nem sempre significaram o que significam hoje. Por isso, falar de um conflito eterno entre religião e ciência é ignorar a natureza metamórfica dos termos em si, e o que significaram ao longo da história. Em outras palavras, aquilo que pensamos hoje quando falamos em ciência não é o que se pensava há 200 anos atrás. Idem para aquilo que pensamos quando dizemos religião. Ao resgatarmos a história do que estes termos significavam ao longo da história, perceberemos que as relações entre esses campos são muito mais ricas e complexas do que o olhar descuidado pode deixar transparecer.
Territórios da Ciência e da Religião
Peter Harrison abre seu importantíssimo livro “Territórios da Ciência e da Religião” (2017) com a seguinte ilustração (2):
Imagine que algum historiador afirmasse que descobriu indícios de uma guerra até hoje desconhecida entre Israel e Egito nos anos de 1600. Prontamente saberíamos que tal historiador está redondamente equivocado, pois o que conhecemos como Israel e Egito hodiernamente certamente não existia em 1600 – ambos os territórios faziam parte do Império Otomano. É claro que o território que hoje corresponde a estas duas nações existia, incluindo algumas cidades de mesmo nome, as características topográficas, etc. Mas a confusão obviamente se dá pela aplicação de mapas atuais a territórios do passado. Os indícios de uma suposta guerra naquele território podem até ser descritos com precisão, mas certamente não envolviam a noção que temos hoje a partir de um ponto de vista de estado nacional delimitado por fronteiras e fundamentado por ideais específicos de nação, pois esta concepção, e a própria formação dos referidos estados nacionais, aconteceu apenas posteriormente a 1600.
Harrison acredita que mais ou menos a mesma confusão se faz com relação aos conceitos de ciência e religião e seu suposto conflito, e sobre isso versa seu importante livro. Segundo ele,
Os conceitos “ciência” e “religião” são tão familiares e as atividades e realizações comumente rotuladas como “religiosas” e “científicas” são tão centrais à cultura ocidental que é natural supor que se tratam de características permanentes da paisagem cultural do Ocidente. Essa visão, contudo, está errada. (3)
No ocidente, tentativas de descrever sistematicamente o mundo buscando a elucidação dos princípios que agem por detrás dos fenômenos naturais datam pelo menos do séc. VI d.C., mas estas atividades mantêm apenas uma semelhança aparente com o que entendemos atualmente por ciência, segundo Harrison. Da mesma forma, desde os tempos mais remotos, o ser humano se volta às celebrações do sagrado, nutre crenças sobre o pós- vida, sobre uma realidade transcendental e sobre conduta correta, mas “somente em tempos recentes é que estas crenças foram amarradas à noção comum de “religião”, e foram separadas de domínios “não-religiosos” ou seculares da existência humana. (4)
O que “religião” já foi?
Jonathan Smith é outro dos autores que traça tal genealogia dos termos religião, ciência e seus correlatos. Começando por religio, termo latino traduzido como religião, ele aponta que na Roma e Grécia antiga o termo era associado à “devoção a um culto ou santuário” do panteão mitológico. No cristianismo primitivo, os substantivos religio/religiones e, mais especialmente, o adjetivo religiosus e o advérbio religiose eram termos cúlticos referindo-se principalmente ao desempenho cuidadoso de obrigações rituais. Este sentido sobrevive na construção adverbial “religiosamente”, que designa uma ação consciente repetitiva, tal como “ela lê o jornal da manhã religiosamente”. (5)
Já no catolicismo medieval, religioso/a denotava pertencer à uma ordem religiosa, ou a totalidade da vida do indivíduo no monasticismo. Assim, se falava de “religião”: uma vida marcada por votos monásticos; “religioso”: um monge; “entrar na religião”: juntar-se a um monastério. Tal uso sobrevive também até hoje no catolicismo contemporâneo, em que frequentemente refere-se a freiras como “mulheres religiosas”, e interessantemente nas religiões afro-brasileiras em que “se entra pra religião”, além de se ir às “casas de religião”, reminiscente do sentido greco-romano antigo de devoção a um culto. Dessa forma, até o séc. XV o termo “religião” e seus derivados possuíam uma próxima associação à observâncias rituais e cúlticas em ambientes separados para este fim.
Harrison faz uma análise do uso que Tomás de Aquino fazia do termo religio. No pensamento tomista, fica claro que religio se refere a uma virtude moral relacionada à justiça. Aquino explica que neste sentido primário, o termo se refere à atos de devoção interior e oração, e que as expressões internas dessa virtude são mais importantes do que expressões externas, que existem – votos, ofertas, etc. – mas que são secundárias (2). Ou seja, para Aquino, religio se tratava de uma virtude interna associada ao campo moral.
Todos estes sentidos de “religião” são um tanto distantes da noção que temos hoje de religião como um sistema proposicional de crenças, além do que, não havia a noção de “religiões” no plural. Afirma Harrison:
Entre o tempo de Aquino e o nosso, religio foi transformado de uma virtude humana em um “algo genérico”, tipicamente constituído por um conjunto de crenças e práticas. Também tornou-se o modo mais comum de caracterizar atitudes, crenças e práticas relacionadas ao sagrado ou sobrenatural. (…) Ademais, enquanto virtude associada à justiça, religio era entendida no modelo aristotélico de virtudes como o ponto médio ideal entre dois extremos – no caso, irreligião e superstição. (7)
As discussões dos pais da igreja sobre “verdadeira religião” também trazem luz ao tema. Segundo Harrison, pensadores como Tertuliano (c. 160-220) e Lactâncio (c. 240-320) tipicamente discutiam “verdadeira religião versus falsa religião” não como uma preocupação com crenças errôneas, mas como adoração, e se a adoração estava propriamente direcionada. Da mesma forma, São Gerônimo usa religio para traduzir a palavra grega um tanto incomum thrēskeia em Tiago 1:27 também para associar o texto com adoração e culto: “A religião (thrēskeia) pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo”. (8) O ponto aqui é que a religio dos cristãos é uma forma de adoração que consiste em atos caridosos ao invés de rituais, contrastando a religião “vã” (vana) com aquela que é pura e imaculada (religio munda et inmaculata), conforme verso 26.
Agostinho segue o mesmo padrão, afirmando que religião falsa e verdadeira se refere ao objeto da adoração: “O que a verdadeira religião repreende nas práticas supersticiosas dos pagãos é que o sacrifício é oferecido a deuses falsos e demônios ímpios.” (9) Mas é interessante notar que, segundo Harrison, diversas formas cúlticas podem ser legítimas expressões da “verdadeira religião”, e que as formas externas de verdadeira religião podem variar no tempo e espaço: “Não faz diferença que as pessoas adoram com cerimônias diferentes de acordo com as diferentes exigências de tempos e lugares, se o que é adorado é santo.” (10) Harrison conclui que, para Agostinho,
Se a verdadeira religião poderia existir fora das formas estabelecidas de culto católico, reciprocamente, alguns daqueles que exibiam as formas exteriores da religião católica poderiam faltar à virtude invisível e espiritual da religião. (11)
Com isso, importa ressaltar que a associação de “religião” com conteúdo de proposições doutrinárias ou com um sistema de crenças não faz parte das percepções antigas do termo “religião” que, como vimos, está mais ligada às práticas rituais bem direcionadas e disposição interna virtuosa. A mudança para a noção de religião como crença veio em grande medida a partir da Reforma Protestante no século XVI. Smith esclarece:
A primeira edição da Enciclopédia Britânica (1771) intitulou sua entrada “Religião, ou Teologia”, definindo o tópico no primeiro parágrafo: “Conhecer a Deus e prestar-lhe um culto razoável são os dois principais objetos da religião”. O homem parece ser formado para adorar, mas não para compreender, o Ser Supremo.” Termos como “reverência”, “culto”, “adorar” e “adoração” nestes tipos de definições foram quase todos evacuados de conotações rituais, e parecem mais denotar um estado de espírito, transição essa iniciada por figuras da Reforma como Zwinglio e Calvino que entendiam a “religião” principalmente como “piedade”. (12)
Segundo Smith, a mudança do caráter definitivo de religião para crença ao invés de comportamento ritual é evidenciada pela posterior opção do termo alemão Glaube ao invés de Religion, e do crescente uso na literatura anglófona do termo “fés” (faiths) como sinônimo de religiões, o que trouxe consigo um conjunto de novas implicações relacionadas à verdade e credibilidade. O crescente surgimento de setores dentro do protestantismo, com suas alegações rivais quanto à autoridade, – o que provocou as chamadas “guerras confessionais” – exacerbou tal tendência, bem como o início do estudo sistemático de outras “religiões” fora do cristianismo. Assim, o “conteúdo” da fé ou da religião tornava-se fundamental, pois era possível “crer certo” e “crer errado”. Harrison conclui que, com o aumento no uso da expressão “religião” e “religiões” no período pós-Reforma, o que era antes uma disposição interna passou a ser objetificado cada vez mais. (13)
Em suma, o Sola Scriptura e o Sola Fide da Reforma evidenciam o locus da religião que se popularizou e perdura no senso comum até os dias de hoje: religião é sobre crenças e sobre um livro – uma mudança radical da noção católica dos pais da igreja sobre religião. Tal concepção popular de religião será fundamental para a discussão sobre as relações contemporâneas entre ciência e religião.
O que “ciência” já foi?
Do mesmo modo, o termo ciência e seus derivados também têm uma história. Harrison mais uma vez esclarece que o termo latino scientia pouco ou nada tem a ver com a noção que atualmente temos do que seria a ciência. Retomando Aquino, é interessante ver o paralelo que há entre o uso que o filósofo faz do termo scientia e de religio. Tratando longamente sobre as virtudes na sua Summa Theologiae, Aquino considera scientia como um importante “hábito da mente” ou uma “virtude intelectual”. Assim como religio, scientia não é um sistema de conteúdos e práticas, mas ambas são, primariamente, qualidades pessoais. Tal entendimento se assenta sobre a noção aristotélica das virtudes como “hábitos que aperfeiçoam os poderes que os indivíduos possuem” e que, por sua vez, se relacionam intimamente com a noção de telē.
Na cosmovisão de Aristóteles, os elementos naturais têm tendências intrínsecas de irem em direção a um propósito último, um objetivo final, um telos. Essa ideia regia o universo físico, explicando por exemplo porque as coisas sobem (como o fogo) ou caem quando soltas no ar. Elas estariam indo em direção ao seu propósito final, encontrar-se com a “esfera” ou “círculo” ao qual pertencem – e o mesmo vale para a vida humana. Os seres humanos teriam, então, uma tendência natural a se moverem em direção ao conhecimento, e nossos poderes intelectuais estariam direcionados a este propósito final, sendo as virtudes intelectuais adquiridas assistentes neste movimento. (14)
Aquino teve papel importantíssimo no redescobrimento de Aristóteles a partir de fontes do mundo árabe nos séculos XII e XIII e tinha-o como frequente parceiro de conversa, compartilhando de muitas de suas ideias. Para Aquino, eram três as virtudes intelectuais: intellectus, scientia e sapientia. A primeira se relacionava com a compreensão dos “primeiros princípios”, scientia com a derivação de verdades a partir destes princípios e a sapientia com a compreensão das causas superiores, incluindo a causa primeira, Deus. Harrison define, então, o que seria fazer “progresso na ciência” na visão tomista:
Fazer progressos na ciência, portanto, não era acrescentar a um corpo de conhecimento sistemático sobre o mundo, mas tornar-se mais apto a tirar conclusões “científicas” de premissas gerais. “Ciência” assim entendida era um hábito mental que era gradualmente adquirido através do ensaio de demonstrações lógicas. Nas palavras de Tomás: “a ciência pode aumentar por adição; assim, quando alguém aprende várias conclusões da geometria, o mesmo hábito específico da ciência aumenta nesse homem”. (15)
Além disso, Aquino também procurou relacionar as virtudes intelectuais às virtudes sobrenaturais – fé, esperança e caridade, aos setes dons do espírito e aos nove frutos do espírito, numa tentativa complexa que também envolve os vícios e as beatitudes, mas cujo produto final é claramente uma sobreposição da esfera moral com a intelectual. Se vícios carnais forem cultivados haverá impacto no intellectus e na scientia, segundo o pensamento tomista. Portanto, conclui Harrison, “scientia não era apenas uma qualidade pessoal, mas tinha um significativo componente moral.” (16)
Na Idade Média, scientia passou gradativamente a designar, também, um corpo doutrinário de conhecimento formal e sistemático – falava-se então das scientiae. A divisão canônica do conhecimento medieval, hoje conhecida nos países anglófonos com as sete liberal arts – o chamado trivium de gramática, lógica e retórica, e o quadrivium de aritmética, astronomia, música e geometria – eram conhecidas inicialmente como as sete “ciências liberais”, pois o ser humano só seria plenamente livre para o exercício das capacidades dele esperadas (e a ele destinadas pelo telos universal) ao dominá-las.
Segundo catálogos de livros ingleses que datam de 1400 a 1700, a palavra science poderia se referir às ciências naturais, morais, sciences of physick (medicina), da pesquisa, da lógica, da matemática, mas também em sentido amplo à arquitetura, contabilidade, geografia, navegação, defesa, música e outras. De forma interessante, no entanto, até aproximadamente o final do séc. XVIII, a ciência era entendida como um ramo da filosofia, como pode ser visto por esta entrada na primeira edição da Encyclopædia Britannica (1771): “CIÊNCIA, em filosofia, denota qualquer doutrina, deduzida de princípios evidentes e certos, por uma demonstração regular”. (17) Cientistas do mundo físico eram os filósofos naturais. (18)
Vemos, assim, que ambas scientia e religio possuíam primariamente conotações interiores, mas que no início da modernidade a balança entre as dimensões interiores e exteriores começou a pender para esta última. Na definição da enciclopédia acima, vemos isso claramente: as ciências como corpo de conhecimento e não mais como “virtudes interiores” ou “hábitos da mente”.
Harrison faz uma interessante observação a respeito desta relação dos elementos interiores com os exteriores de ambas, ciência e religião. No caso da religio, os atos exteriores de adoração são secundários, pois são motivados por piedade interior e, no caso da scientia, é o ensaio do processo de demonstração que fortalece o hábito mental em questão.
Já que o objetivo primário é o aumento dos hábitos mentais, adquiridos mediante familiaridade com conjuntos sistemáticos de conhecimento (“as ciências”), a ênfase estava menos na produção de conhecimento científico do que na repetição do conhecimento que já existia. […], isso se deu porque era entendido que o “crescimento” da ciência ocorria dentro da mente da pessoa. No presente, claro, quaisquer vestígios do habitus científico que permaneçam na mente do cientista de hoje são voltados para a produção de novo conhecimento científico. Na medida em que eles sequer existam – e, em sua grande maioria, foram projetados externamente em protocolos experimentais -, tratam-se de meios, e não do fim. Exagerando um pouco a questão, na Idade Média o conhecimento científico era instrumento para inculcar hábitos científicos da mente; atualmente, hábitos científicos da mente são cultivados primariamente como instrumento para a produção de conhecimento científico. (19)
A noção atualmente cristalizada que possuímos de ciência e religião como principalmente concernentes a objetos externos, corpos doutrinários e diferenciadas por seus métodos e objetos têm, dessa forma, uma história relativamente recente, quando começou a ocorrer a “objetificação do que foi uma vez uma disposição interior”, conforme Harrison define. Este fenômeno foi ocorrendo com a religião ao mesmo tempo em que as ciências naturais também progrediam. Isso configura-se em mais um aspecto interessante das relações ciência e religião, que Harrison comenta:
O conceito de “religião” envolveu o deslocamento da fé religiosa para uma nova esfera, uma esfera em que a substância presumida da religião poderia servir como objeto de investigação racional. O novo contexto para a “religião” era o domínio da natureza. Da mesma forma que o mundo tornou-se objeto de investigação científica nos séculos XVI e XVII através de um processo de dessacralização, também as práticas religiosas (inicialmente as de outras pessoas) foram desmistificadas pela imposição de leis naturais.
Como o mundo físico deixou de ser um teatro no qual o drama da criação era constantemente reorientado por intervenções divinas, as expressões humanas da fé religiosa vieram cada vez mais a ser vistas como resultados de processos naturais, em vez da obra de Deus ou de Satanás e suas legiões. Para cientistas e estudantes da recém encontrada “religião”, a maioria dos quais manteve convicções religiosas, restava determinar o papel que poderia ser encontrado para Deus no mundo natural. Isso, por sua vez, dependia do que se entende por “natureza” e “natural”. (20)
Gradativamente, a religião tornava-se também objeto de estudo das ciências, o que explica em parte a existência atual de movimentos como o da “Ciência das religiões”, afinal, entende-se hoje que diferentes religiões têm diferentes conteúdos proposicionais, além de diferentes ethos sociais. Um elemento interessantíssimo que ilustra essa mudança é trazido por Harrison quando analisa a questão dos artigos no Latim, a seguir.
Como sabe-se, diferentemente da nossa língua e de tantas outras, não existem artigos em latim – nada de “a/o”, “um/uma”. Harrison aponta que, por causa disso, as traduções de expressões comuns à época, como vera religio ou christiana religio podem alterar completamente o significado caso o tradutor resolva colocar ou omitir o artigo. As conotações de “religião verdadeira” e “religião cristã” são bem diferentes de “a religião verdadeira” e “a religião cristã”.
As primeiras podem significar algo como “piedade verdadeira” e “piedade à maneira de Cristo”, o que é coerente com a ideia de religião como uma qualidade interior. Já a colocação do artigo, no entanto, sugere um sistema de crenças. (21) A história da tradução do magnum opus de João Calvino trazida por Harrison ilustra bem esse ponto e revela a transição da compreensão de religião como uma qualidade interior para um sistema proposicional. O título original em Latim da obra do reformador é Institutio Christianae Religionis (1536), sem artigos, e claramente foi concebida para inculcar a piedade cristã nas pessoas, embora isso seja ocultado pela prática atual de traduzir o título como As Institutas da Religião Cristã. Mas Harrison esclarece:
A página de rosto da primeira edição inglesa, por Thomas Norton, traz a tradução mais fiel: The Institution of Christian Religion [A instituição de religião cristã] (1561). O artigo definido é preposto a “religião cristã” na edição de Glasgow de 1762: The Institution of the Christian Religion [A instituição da religião cristã]. E Institutes [Institutas], agora familiar, aparece pela primeira vez na edição de John Allen, de 1813: The Institutes of the Christian Religion [As institutas da religião cristã]. A tradução moderna sugere uma entidade, “a religião cristã”, que se constitui pelo seu conteúdo proposicional – “as institutas”. Essas conotações estavam completamente ausentes no título original. O próprio Calvino confirma isso ao declarar no prefácio sua intenção: “fornecer uma espécie de rudimento, pelo qual aquele que sentir algum interesse pela religião seja treinado na verdadeira piedade”. (22)
Implicações para o diálogo “Ciência/Religião”
O exposto acima evidência como muitas vezes o que vemos hoje em termos de relacionamento entre ciência e religião parte de pressupostos simplistas quanto à natureza, escopo e história das duas áreas, o que leva a conclusões mal informadas e por vezes errôneas. O retrato popular que vemos atualmente quando ambos os nomes – ciência e religião – estão na mesma frase, inexoravelmente evoca imagens de conflito belicoso, disputa ou batalha.
Uma boa parcela de culpa por essa interpretação midiática da relação é atribuída ao chamado “movimento neo-ateísta”, que tem no zoólogo Richard Dawkins sua principal voz. Tal movimento surgiu nos anos 2000 e tirou o ateísmo dos circuitos de discussão filosófica e teológica e tornou-o um fenômeno de massa, principalmente a partir da publicação – e expressiva venda – de 5 livros principais: “The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason” (2004) e “Letter to a Christian Nation” (2007), de Sam Harris; “The God Delusion” (2006) de Richard Dawkins; “Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon” (2006) de Daniel Dennett, e “God is Not Great: How Religion Poisons Everything” (2007), de Christopher Hitchens.(23)
Estes quatro autores têm sido frequentemente chamados de “Os 4 Cavaleiros do Neo-Ateísmo”, e popularizaram, literalmente fazendo campanha, o “ateísmo militante” e catequético. Dawkins, premiadíssimo biólogo de Oxford e autor de inúmeros best-sellers, afirma, sem titubear, sobre “Deus, um Delírio” que “este livro (…) saiu, sim, para converter”. (24) Com um estilo sarcástico, irônico e muito provocador, Dawkins e seus companheiros iniciaram uma cruzada que, diferentemente do ateísmo clássico, atacam ferozmente a religião – particularmente as monoteístas – considerando-a perniciosa e sem nenhum atributo positivo. Dawkins afirma:
O Deus do Antigo Testamento é talvez o personagem mais desagradável da ficção: ciumento, e com orgulho; controlador mesquinho, injusto e intransigente; genocida étnico e vingativo, sedento de sangue; perseguidor misógino, homofóbico, racista, infanticida, filicida, pestilento, megalomaníaco, sadomasoquista, malévolo.(25)
E ainda,
Meu ponto não é que a religião em si é a motivação para guerras, assassinatos e ataques terroristas, mas que a religião é o principal rótulo, e o mais perigoso, pelo qual podemos identificar um “eles” em oposição a um “nós”. (26)
No senso comum regido por essa lógica, assume-se, ora implícita ora explicitamente, que a história foi e é dirigida por duas forças: a ciência, que sempre trouxe o progresso, o avanço, o benefício em direção ao bem comum; e a religião, retrógrada, obscurantista, que freia o progresso e é responsável por diversas mazelas e tragédias históricas. Esta última é coisa de gente estúpida, “burra”, e reacionária, e a outra é a coisa dos “iluminados” (27), “cultos”, “inteligentes”.
Uma característica comum entre os neo-ateístas é a noção de que a ciência substituiu a religião, portanto, um cientista religioso é um oximoro, uma contradição em termos. Tal ideia tem uma história de cristalização ao longo dos séculos XIX e XX, mas pode ser ilustrada claramente por esse célebre excerto de Julian Huxley (1887 -1975), neto do “buldogue de Darwin” Thomas Huxley:
No padrão evolutivo de pensamento, não há mais necessidade ou qualquer espaço para o sobrenatural. A Terra não foi criada. Ela evoluiu. Assim também todos os animais e plantas que nela habitam, incluindo nós humanos, mente e alma, bem como cérebro e corpo. O mesmo aconteceu com a religião. (…) A verdade nos libertará. (…) A verdade evolutiva nos liberta do medo subserviente do desconhecido, e nos exorta a encarar essa nova liberdade. Nos mostra nosso destino e nosso dever. Homens evolutivos não podem mais se refugiar dessa solidão nos braços de uma figura paterna divinizada, que ele próprio criou, nem escapar da responsabilidade de tomar decisões se protegendo embaixo do guarda-chuva da autoridade divina. (…) Finalmente, a visão evolutiva vai nos habilitar a discernir, embora de forma incompleta, os contornos de uma nova religião, que podemos ter certeza que surgirá para servir às necessidades da era porvir. (28)
Veja que assim como o mundo natural evoluiu, a religião também. Mas transparece claramente que esta evolução da religião se dá em direção à ciência, que na verdade a substituiu ou substituirá, pois a “verdade liberta”, mas a verdade evolutiva e não a de João 8:32.
Cabe notar aqui que tal noção só é possível em virtude de religião ser entendida contemporaneamente como um conjunto de crenças e proposições, dentre elas, proposições com respeito a natureza da realidade física. Para Huxley, Dawkins e seus seguidores, estas proposições estão em conflito com as proposições da ciência, de modo que é necessário escolher uma delas.
Outrossim, do lado da religião popular, e em especial entre os evangélicos, há também a noção de que a ciência é inimiga da fé, afinal, ela faz proposições sobre a realidade física que vão de encontro com as proposições da religião, depreendidas de uma leitura específica do texto bíblico. Assim apresenta-se a posição chamada de “Criacionismo” (um espectro de crenças que acredita na historicidade literal dos capítulos iniciais de Gênesis quanto à origem do universo e da vida, e que segundo sua variante mais comum, postula que o planeta não tem mais do que 6 mil anos) (29).
Mas a crença vai além: parece haver um “estado de espírito” ora afirmado, ora implícito, de que há uma conspiração universal para acabar com a fé e com teísmo cristão. E esta “conspiração” tem nas diversas ciências sua principal voz – e na boca de Darwin seu principal profeta: o homem que matou Deus, já dizia uma capa de revista popular alguns anos atrás. (30)
Colocada desta forma, a dicotomia está estabelecida: a ciência torna-se intrinsecamente ateísta, humanista em termos de ética e “darwinista” como visão de mundo adotada. Do outro lado está a religião, com Deus, uma ética bíblica, e uma crença na “criação” em oposição a evolução darwiniana. Esta dicotomia apresenta uma escolha que o indivíduo parece ser obrigado a fazer, como bem resumiu Mario Sanches: “a) aceito a Bíblia, logo não aceito a evolução: sou criacionista; b) aceito a evolução, logo, questiono a Bíblia e tenho problema com o cristianismo” (31) . Ou você está do lado de “Deus/Religião/Bíblia” ou está do lado da “Ciência/Ateísmo/Darwin”. Não há escapatória, segundo dizem.
Felizmente, sabemos que a recente pesquisa historiográfica tem demonstrado que tal imagem ingênua de conflito eterno está longe de ser a verdade histórica, e que as interações entre os dois campos são muito mais complexas e nuançadas do que o olhar descuidado revela. Como acabamos de ver, não faz sentido do ponto de vista histórico afirmar um conflito intrínseco em áreas que, por muito tempo, compartilhavam de um mesmo território, e significavam coisas bastante distintas do que significam hoje.
Em conclusão, sabemos que religião é entendida hoje como fenômeno complexo, multifacetado, de difícil definição, e que abarca nem tanto conteúdos proposicionais (embora este façam parte de diversos cânones religiosos) mas mais uma práxis social de dimensões individuais e comunitárias. E do lado da ciência, temos um empreendimento humano regido por um ethos bastante rígido, que engloba métodos e práticas sociais compartilhadas por um grupo e tidas como válidas. Ambas, no entanto, são parte do esforço humano de compreender a realidade que nos cerca, e, como tal, não necessitam estar em conflito.
Leia a seguir: A redenção da razão científica, de Carlo Lancellotti

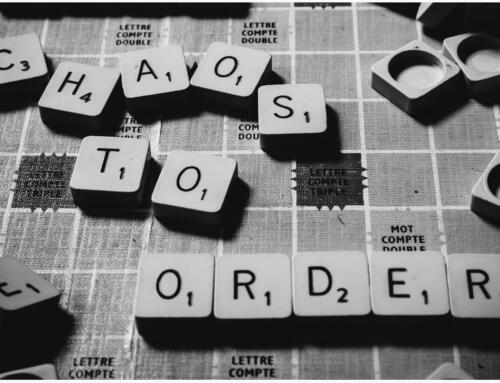



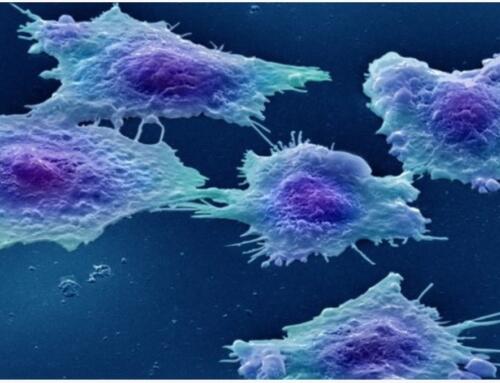
[…] Leia também: Os termos “ciência” e “religião” ao longo da história. […]
[…] Leia também: Os termos ciência e religião ao longo da história […]